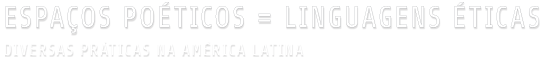Thiago Rocha Pitta. Herança. Frame de vídeo, 2007
Think Piece: Comunidades, pedagogias e transgressões
Fred Coelho
Em algumas das conversas que tive o privilégio de travar com Carlos Vergara, às vezes uma pergunta ficava girando no ar: como viver juntos? Dita pelo artista, seu peso era dúbio, pois ao mesmo tempo em que flutuava, alada de esperanças dos possíveis, também tinha o excesso do chumbo dos dias em que ela se torna quase uma impossibilidade. A questão de fundo barthesiano (me refiro ao livro do crítico francês Roland Barthes com o mesmo título) é central na obra de Vergara e, simultaneamente, é a síntese dos nossos impasses contemporâneos. Mais que isso, e esse é o tom preciso da sua fala, ela é um desafio que a arte não pode deixar de enfrentar. Viver juntos não como adaptação passiva à tragédia, mas como refundação de existências plenas de experimentações. A arte, cada vez mais, aponta as possíveis formas de inventarmos esse estado político de comunidade.
O que acontece quando a experiência estética transborda o olhar e se infiltra, como um rio subterrâneo, na vida das pessoas? Como ela supera seu espaço precificado e estratificado para atingir o cerne de seus propósitos práticos na vida cotidiana de qualquer pessoa, seja por idade, classe, etnia, gênero ou delírio? Os trabalhos e situações narradas nesta edição de MESA nos mostram que é pelo espraiamento da experiência e pelo seu compartilhamento comunitário que a arte assume sua potência e, consequentemente, esvazia estrategicamente seu poder. A arte, quando é de todos, torna-se um “rizoma plantado”, como os Juncos da Ala Plástica Argentina (APA). Suas raízes sem centro nos dão ao mesmo tempo a firmeza do território conquistado e a liberdade do movimento do corpo pelo espaço.
Nunca a metáfora natural do mundo-organismo se fez tão urgente. A ideia, porém, deve ser fugir de suas derivações médicas (doença, infecção, diagnóstico) e assumir sua veia vitalista de compartilhamento de funções. Todos são parte de um mesmo organismo que cria e destrói seu próximo em uma sístole e uma diástole infinitas. Mais uma vez, é a arte que oxigenará o fluxo de energia sempre que visar à conexão das partes rachadas, a revelação dos discursos silenciados, a invenção de mundos possíveis. Ela instaura em cada zona de tensão (ambiental, social, estética, histórica) microutopias fundadoras de outros futuros, construídos coletivamente.
Viver junto também através da pedagogia como forma de arte, como faz René Francisco. O artista cubano nos propõe práticas que visam horizontalizar saberes, mergulhar no corpo coletivo formado por alunos, aproveitar os “vazios” de saber e preenchê-los com as trocas entre mestre e estudante, interferir na vida cotidiana da população, reinventar as relações entre arte, espaço e mercado. Todas essas ações, fruto de sua pragmática pedagógica, nos confirmam o que se sabe há tempos: fazer uma arte política é, antes de tudo, promover formas renovadas de existência. Ou de reexistência, já que muitas vezes é a arte que refunda vivências e que recria laços sensíveis com a vida por parte de pessoas em situações-limite. Na selva colombiana ou na favela da Maré, a violência em suas múltiplas formas torna-se o motor dessas reexistências, cujas raízes-rizomas expandem sua cartografia sem nunca apagar seu território de origem. As “quebradas” do Rio fundam saberes e lançam manifestos, assim como os ex-guerrilheiros do narcotráfico apresentam por meio de pinturas toda a complexidade de suas lutas. Arte política é a arte que revolve a terra, que recria o estuário, que replanta a relva, que dá voz ao infinito, que aproxima as partes, que conjuga o verbo amar sem medo do amargo.
Arte política, porém, nem sempre se adequa ao senso comum do par Arte e Política. Tal par, quando acionado, ao menos em nossa história recente, pode redundar em didatismo paternalista, em formas de instrumentalização de uma pela outra. A arte, reproduzindo imagens e polêmicas institucionais como se a representação da tragédia precisasse de metáforas para sublinhar suas linhas. A política, esvaziando o dado subversivo da imagem e dos corpos e os transformando em faladores de uma verdade ideológica através dos suportes tradicionais. Vale lembrar que essa forma foi utilizada no Brasil, por exemplo, na época dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE). Uma arte mais política do que artística, cuja pedagogia, bem distante da pragmática de René Francisco, partia de um ponto esclarecido (artistas, intelectuais, estudantes) para iluminar os pontos obscuros (operários, moradores de favelas, camponeses). A “conscientização das massas” em prol da revolução esperada (e derrotada) era o lastro dessa pedagogia, propondo um acordo precário entre-classes, cuja mediação negava a negociação de necessidades comuns da prática em prol de uma necessidade coletiva abstrata. Nesse contexto, não existiriam “Universidades das Quebradas”, mas sim formas hierárquicas de saberes. O estudante que passa a militar na “cultura popular” dos anos 1960 não altera as bases existenciais da pobreza, nem se articula na vida cotidiana das comunidades em que promove a encenação de sua peça política. Nessa situação, o artista do discurso (dramatúrgico, musical, literário, poético) torna-se tradutor engajado da miséria. É mediador da fratura social, mesmo que apresente sua superfície precária. A “cultura popular” assume seu caráter de categoria normativa e limita aos seus produtores e participantes as múltiplas aberturas que a vida em situações-limite apresenta.
Apenas como contraponto de uma mesma época, temos o caso de Hélio Oiticica, cuja vivência no morro da Mangueira e em outras favelas cariocas durante os anos de 1964 a 1968 fundou outra forma do artista e da arte lidarem com ideias políticas como “comunidade” e “participação”. Sua inserção no cotidiano do território à margem da cidade oficial, sua relação com a marginalidade local e sua participação integral na vida do samba deu a Oiticica uma concepção de totalidade que era mais forte que um partido político e mais virtuosa (talvez mais romântica) que a utopia revolucionária de cunho socialista dos intelectuais ligados ao CPC. Não se buscava nessas experiências da Mangueira uma essência salvadora, ao contrário. Oiticica visava, de fato, ao fim de fronteiras e demarcações abstratas entre pessoas de classes sociais distintas. E isso, para ele, só era possível através da experiência política que a arte nos fornece ao ser posta como elo, como liame de mundos, como forma estratégica de inventarmos saídas para o que nos paralisa.
Quando Oiticica chega ao seu exílio em Londres, logo depois da experiência mangueirense (1969), ele escreve textos e obras cuja palavra de (des)ordem era SUBTERRÂNIA. Na sua tentativa de buscar uma conexão latino-americana com os trópicos devido a sua condição de estrangeiro na Europa, Oiticica cria a Subterrânia, nosso underground, nossa condição geográfica no mundo: abaixo da linha do Equador, subterrâneo ao chão do ocidente em sua divisão mais básica. Essa linha, ainda hoje, nos coloca próximos da América Latina, continente cujos dramas são tão contundentes quanto são fugazes suas conquistas. Como nos mostra o trabalho decisivo de Juan Manuel Echavarría com suas pinturas coletivas, fotos e relatos sobre a guerra do narcotráfico colombiano, a conexão que fazemos com as guerras cotidianas do Rio de Janeiro, assim como de qualquer outra cidade conflagrada pela violência urbana ou rural no país, é imediata. Mais uma vez, o trabalho de Echavarría mostra que a arte se torna política pela sua capacidade de ampliar mundos e romper fronteiras. Ela não assume um caráter salvacionista, nem quer converter ninguém. Nas pinturas feitas por meio de práticas artísticas compartilhadas, o artista colombiano propõe uma outra situação de existência para seus parceiros ao deslocar a memória da dor para o fazer estético. O encontro com a arte, nessas situações, não é a garantia da paz, mas é ao menos a abertura das microutopias.
Eis por que a pergunta do Manifesto redigido pelos quebradeiros (estudantes da Universidade das Quebradas) é tão importante quanto a que abre esse texto: o que pode um encontro? Se a base de uma vida em comunidade (viver junto) é aceitar o outro, um encontro pode ser o primeiro e decisivo passo para tecermos conexões mais amplas de experiências. No Rio de Janeiro, cidade em que o manifesto dialoga e tensiona, a reivindicação de um lugar estável de existência é uma conquista diária de acordo com sua classe social ou sua geografia. O que está cristalino em um texto como o dos quebradeiros é que o encontro, esse motor da vida e da arte, é cerceado violentamente. Circular pela cidade, expandir os mapas torna-se tarefa cujo preço pode ser a vida ceifada pelas forças de segurança. Eis por que um trabalho como as “garrafas ao mar” é cortante em sua simplicidade e força. Jovens que, na busca de constituírem uma cartografia pessoal dentro de sua própria cidade, lançam mensagens para fora dela, simulando corpo à deriva na busca das fronteiras infinitas do mundo.
É nessa espiral entre arte, política, coletivos, vidas, mortes, meio ambiente e cidades que nascem novas necessidades de fala – e de silêncios. Nas falas, a proposição de um novo vocabulário político que dê conta dos que se movem, do que ainda é precário, mas se faz presente na percepção de que, como citado acima a respeito dos anos 1960, as categorias de outrora não fazem mais jus a esses novos corpos em movimento, nem a essas novas utopias de transformação do cotidiano. No silêncio, a possibilidade de reaprendermos a escrita do mundo, de ouvirmos a urdidura sutil que ocorre entre natureza e cultura, entre mistério e história. Cristina Ribas e Guilherme Vaz, ambos com parceiros, nos apontam os dois extremos de nosso tempo de encontros e desencontros. A necessidade de falar a mesma língua do dissenso ou de calar o mesmo silêncio em plenos pulmões.
Como viver juntos? Vivendo juntos. Entendendo que “fazeres comunitários” são fundamentais para nos questionarmos em nossos limites e para desmontarmos poderes e saberes normativos da existência. Nos religar ao devir coletivo do mundo-organismo e transcender o mundo-abismo que se apresenta diariamente a todos nós. Viver juntos porque apenas juntos as soluções serão DE TODOS. É preciso estarmos abertos ao encontro com a diferença, pois só o encontro com o outro mantém em aberto a cadeia infinita de possibilidades e partilhas. Sem o outro, sem o encontro, não há nada para ser partilhado. A arte não existe para ter uma função, muito menos uma utilidade. Ela existe para que todas as funções e todas as utilidades sejam ainda poucas perto de sua multiplicidade de fazeres e saberes.
Fecho este texto com uma citação retirada do trabalho da Ala Plástica: “O desafio de nosso fazer está centrado em articular forças coletivas para catalisar as possibilidades regenerativas do fazer comunitário, examinando, a partir da arte como forma de conhecimento, as mutações urbanas, os ecossistemas e perguntando sobre o que nós humanos somos capazes de construir ou destruir, e para que o fazemos”. Para que o fazemos? Para vivermos. Juntos.