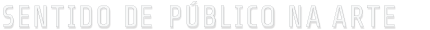José Rufino. Lexicon Silentii, 2014. Foto Ding Musa
Festim
José Rufino
Em situações especiais, mas não tão raras, meu espírito desprende-se de todas as formas de expectativa e meu organismo não entende bem as funções dos sentidos; meus olhos veem mas não sabem o que fazer com as visões; meu nariz reconhece os cheiros, mas não sabe de onde se desprendem; meus ouvidos embaralham os sons em cacofonias frenéticas; minha pele confunde calor e frio, áspero e macio; meu tamanho se desconhece entre minúsculo e imenso, permitindo que meu corpo, de qualquer tamanho, ocupe e desocupe qualquer pequena cavidade ou o próprio vão do espaço, todo; o tempo se enrosca e o instantâneo endurece em sequências fotográficas quase palpáveis, enquanto o duradouro encolhe em frações diminutas, escapando da percepção; minha língua tateia as gotículas no ar, mas os sabores se misturam entre sal e açúcar, e, finalmente, o sentido de equilíbrio se perde, como se não houvesse mais chão, ou melhor, uma gravidade me puxando para o chão. Sinto-me, entendo-me ainda como algo que existe, mas um algo residual, totalmente poroso.
No entanto, essa entrega não resulta em um torpor inútil, ao contrário, provoca uma perturbação generalizada, como se cada cartilagem da memória se aquecesse em febre e o frêmito gerado por esse fenômeno iluminasse com fogo meu estado de fantasia, minha cratera da criação. O resultado é puro gozo e desejo de compartilhamento. É uma experiência particular, claro, mas a orientação do espírito, a ideologia que emana desse espírito em estado vulcânico, indica que dali deve sair algo que talvez possa ser dividido, experimentado pelo outro, e isso, nada mais que isso, me faz recolher as coisas quentes dessa cratera e reapresentá-las ao mundo como coisas de arte.
Era assim que eu estava me sentindo quando aquele ônibus escolar amarelo, pesado, duro, deixou o fim de uma rua da cidade do Crato e avançou destemido pela escuridão de uma estrada de terra. Eu não sabia para onde estava indo, nem exatamente o que encontraria. Estava ali, entregue, dependente daqueles que sabiam o que faziam. Dividia o espaço com os participantes do seminário e com moradores locais, incluindo estudantes.
Apesar de ter feito outras viagens ao Cariri, nunca tinha experimentado um trajeto noturno fora dos perímetros das cidades. Era como se eu fosse um estrangeiro, tão estrangeiro como alguns integrantes de nossa comitiva. Tudo se fazia novo ou era sabotado pelas minhas memórias perceptivas para que se tornassem um completo regimento do novo. E eu nem esperava por algo tão interessante depois do passeio que tinha feito pelas ruas comerciais de Juazeiro, percorrendo calçadas apinhadas de gente e passando por lojas de toda categoria de coisas, algumas tão surpreendentes, tão inclassificáveis, que mais pareciam fulgurar na categoria de coisas da arte. Numa delas, uma ampla loja desativada, manequins de fibra de vidro, mulheres e homens desnudos, uns sem cabeças, descansavam ao lado de uma estátua do Padre Cícero, símbolo maior da complexa e intensa religiosidade da região. Aliás, religiosidade e paganismo convivem no Cariri de forma tão natural que não se pode mais desfibrar o flagelo, a miséria, a dor, do festim e seus mais altos graus de prazer. Talvez isso seja mesmo o traço comum de todas as religiões, o fio contínuo entre dor e prazer.
O ônibus escolar seguia pela escuridão, apertado pela vegetação que aparecia e sumia iluminada pelos faróis do veículo e por outros que passavam em sentido contrário. Tudo balançava dentro daquela caixa metálica dura e antiquada, mas adequada para aquele tipo de estrada carroçável, cheia de depressões e pedras. Chegamos ao largo da Vila Padre Cícero e o ônibus parou na sede da escola de reisado do Mestre Aldenir.1 Crianças vestindo indumentárias coloridas, cheias de fitas, corriam de um lado para outro num pátio de cimento. Constelações de pequenos espelhos em formas de losangos também corriam de um lado para outro, presas nas roupas das crianças. As lâmpadas dos postes, das casas e de algumas gambiarras deixavam o ambiente dourado, dramático. Entre os campos de luz e os horizontes escuros, tudo parecia mais misterioso. Dentro da escola de reisado, um pequeno boi mascarado coberto de fitas, muito alto, estava pendurado no meio de um palco, bem atrás de uma cadeira escolar, vazia. Por ela passavam sombras esticadas, cabeças, braços, corpos quase completos, muito esticados, raspando o chão como monstros pardos. Parecia o local de algum tipo de ritual muito específico. Eu fiquei olhando aquela cadeira, simples, solene, solitária. Demorei a entender que era o trono do Mestre Aldenir, seu lugar de professor, de puxador do ritmo, das rimas repetidas de geração a geração.
Deixei a escola de reisado e saí perambulando, seguindo a luz fraca dos postes feito inseto encandeado. Segui a fila de postes parando sob cada auréola de luz dourada, como se cada uma fosse uma estação, um acontecimento de arte. Na primeira, dois troncos de árvore faziam companhia a uma pedra. Era um lugar de conversa, uma praça de encontros noturnos. Imaginei três velhos ali sentados, cigarros de palha nas bocas: histórias lentas, lendas, saudosismos, espantos. Na segunda, sob a mesma luz goiesca, um monte de pedras, praticamente da minha altura, arrumado como uma grande tumba, estava separado de um monte de varas por uma cerca de estacas e arames. Era uma configuração bem menos bucólica que a primeira. Havia algo de morte, algo que me lembrou uma assustadora visita noturna aos arredores do campo de concentração de Buchenwald, na periferia de Weimar. Passei para a terceira estação. Chão mais limpo, varrido, pequenas pedras e um fantasma de fogueira. Nada muito significativo, apenas solidão. A quarta estação estava tomada por cacos de cerâmica. Mais uma vez as lembranças do campo de concentração. O poste iluminado, bem no meio daquele círculo de fragmentos, parecia um monumento de guerra. Segui para a quinta estação me perguntando por que eu estava associando a pacata e feliz Vila Padre Cícero aos arredores de Weimar. Na verdade, carrego essa espécie de mania, ou estratégia de reconhecimento: encontrar sempre algum lugar semelhante ao outro e manter todos em um mapa de pontos irmãos, unidos por linhas imaginárias. Na quinta estação, a pequena vila do Cariri cearense já estava definitivamente ligada a Weimar. Foi a minha última parada, nada mais que mato e a sombra das folhas maiores saltando do fundo escuro em recortes sépia-avermelhados. Já era o bastante, eu já tinha classificado, intimamente, cinco estações de luz como possíveis acontecimentos de arte e, mais que isso, já tinha feito a improvável conexão com Weimar. Levaria dali uma experiência pessoal, não compartilhada como ato de arte, mas arquivada como possibilidade, como repertório de trabalhos futuros. Hoje, tentando decifrar a relação feita com o campo de Weimar, penso que posso ter sido influenciado pela quantidade de ex-votos que vi em Juazeiro (grotescas esculturas de partes de corpos, tristes imagens de doentes e acidentados e todo tipo de iconografia de sofrimento). Mas isso serve apenas como uma sugestão, pois é, de fato, no plano subjetivo que eu construo esse mapa de lugares irmãos.
Voltei apressado para me reintegrar ao grupo. No caminho fui cumprimentado por um homem numa bicicleta, carregando um grande brinquedo inflável, uma coisa indecifrável, mais ou menos parecida com a forma de uma bomba bojuda, só que leve, translúcida. Era mesmo um brinquedo, não uma bomba.
De volta à rua da escola, sentado numa mureta, abri o iPad para me localizar através do Google Earth. Logo fui cercado por várias crianças, que não se intimidaram e avançaram na tela do aparato como insetos mirins. A vila aparecia perfeitamente. Brincamos com o zoom e logo ficou claro para mim e para elas que realmente estávamos naquela vila, perto das cidades do Crato e Juazeiro, no Cariri, Ceará, Brasil. Ficou mais claro ainda que estávamos no centro do mundo e era possível girar o mundo com as pontas dos dedos, o mundo todo em torno daquela vila.
Da vila de Padre Cícero seguimos no mesmo ônibus para a localidade de Serraria. Era lá que a turma do Mestre Aldenir encontraria os foliões do Mestre Antônio Carreiro. Ali acontecia uma animada festa de reisado. O festim emendava as preces feitas ao pé do altar com as coreografias no pátio da frente da igreja, com as conversas dos jovens montados em suas motocicletas, com os olhares dos velhos escorados no oitão do templo, com as fofocas das donas das barracas de comidas e com a conversa que eu começara com Nuno Sacramento, ao sabor da cerveja bem gelada. Ele me explicava o conceito de “baldio” e estávamos ali num quintal, momentaneamente aberto como bar, um terreno transformado em campo baldio.2 Não mais que uma dezena de mesas sob a mesma luz das estações da Vila Padre Cícero.
Naquele momento não parecia haver mais nenhum tipo de estranheza por parte dos moradores locais, nem nossa. Não éramos mais “estrangeiros”, sequer estranhos. Ninguém se incomodava com nossas câmeras, com nossos olhares quase adaptados. Tudo parecia natural naquele festim híbrido. Cada um, forasteiro ou pessoa da comunidade, podia ser rei ou rainha, rezando ou bebendo.
João Pessoa, fevereiro de 2015
_
1 Reisado. In Britannica Escola Online. Enciclopédia Escolar Britannica, 2015. Web, 2015. (Acesso em: 20 de fevereiro de 2015.)
2 Nuno Sacramento é um curador português, nascido em Moçambique e que atualmente mora na Escócia, onde dirige o Scottish Scultpure Workshop. Ele fez parte do grupo de pesquisa nestes dias no Cariri. Seu conceito de “baldio” busca um uso antigo do termo em Portugal, significando o uso comum e um território compartilhado. Para mais informação: Nuno Sacramento. “Maker’s Meal e a produção do novo comum.” Revista MESA nº 1, fevereiro de 2014.