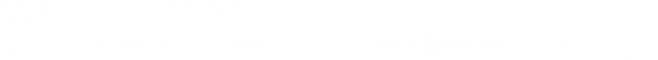Ensaio de escutas: O falatório de Stella do Patrocínio
Anna Carolina Vicentini Zacharias, Natasha Felix e Sara Ramos
Mediação: Diana Kolker
Diana Kolker: Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui! Esta é uma ação integrada entre o programa de educação e arte do Museu Bispo do Rosario¹ Arte Contemporânea (mBrac) e o Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes (PPGCA) da UFF, através da disciplina “Conchas, peneiras e bainhas: arte, clínica e cuidado na contemporaneidade” ministrada pela Jessica Gogan, de quem eu sou muito fã — isso eu não perco a oportunidade de dizer.
Cada parceria é sempre muito importante e preciosa e nos coloca a pensar as práticas da instituição. Nosso encontroEnsaio de escutas — que acontece no contexto da exposição “Stella do Patrocínio: Me mostrar que não sou sozinha, que tem outras iguais, semelhantes a mim e diferentes” — é um convite à escuta ao falatório de Stella do Patrocínio e à conversa a partir das reverberações da voz de Stella em nossos corpos.
Nascida no ano de 1941, no Rio de Janeiro, Stella do Patrocínio caminhava por uma rua no bairro Botafogo quando foi, assim como Arthur Bispo do Rosario, detida pela polícia e internada compulsoriamente no Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII), aos 21 anos. Em 1966, foi transferida para o antigo manicômio Colônia Juliano Moreira (CJM), onde permaneceu até sua morte, aos 51 anos. O mesmo hospício que Bispo também esteve internado e produziu suas obras e onde, depois de seu falecimento, foi inaugurado o Museu Bispo do Rosario².
Em 1986, como parte do movimento de humanização das práticas em contextos psiquiátricos, foi realizado na CJM o projeto “Oficina de Livre Criação Artística”, em parceria com a Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), idealizado pelas psicólogas Denise Correa e Marlene Sá Freire, com a orientação da artista Nelly Gutmacher e a participação dos artistas — na época estudantes da EAV — Carla Guagliardi e Márcio Rolo. O projeto promoveu oficinas de arte para internas do extinto Núcleo Teixeira Brandão (antigo pavilhão de mulheres internadas). Foi nesse contexto que Stella do Patrocínio, Carla Guagliardi e Nelly Gutmacher, a partir de uma sugestão de Carla, realizaram as conversas gravadas em fita cassete — o impactante falatório, como Stella denominou. Anos depois, novamente a fala de Stella foi gravada em outras fitas (infelizmente perdidas) e transcrita parcialmente pela Mônica Ribeiro de Souza, estagiária de psicologia na época. Em 2001, após seu falecimento, o falatório assumiu outra forma, um livro de poesia, com o título Stella do Patrocínio: Reino dos bichos e dos animais é o meu nome, organizado por Viviane Mosé. Desde então, as palavras de Stella do Patrocínio tornaram-se publicamente conhecidas, inspirando diversas publicações, produções artísticas e pesquisas acadêmicas.
A presença de Stella em seu falatório reinventa a língua em seu fluxo. Esses áudios, reproduzidos na íntegra nesta exposição, revelam apenas uma pequena mostra de sua passagem pelo mundo em seu gesto de fazer ecoar sua voz: denúncia frente a uma sociedade normatizadora, patriarcal e racista, que se valeu do modelo médico para excluir e calar as pessoas que, de alguma maneira, se diferenciavam do modelo hegemônico.
Com a curadoria coletiva de Patrícia Ruth, Rogeria Barbosa, Raquel Fernandes, Ricardo Resende e eu, a mostra coloca em foco a palavra–falada, escrita, desenhada, costurada, bordada, dançada, performada, cantada–mobilizada pela escuta do falatório de Stella do Patrocínio, num esforço de tensionar as institucionalizações e afirmando a relevância de Stella na produção intelectual e artística contemporânea. Em interlocução com o falatório de Stella, como parte da exposição também apresentamos a produção das artistas Annaline Curado, Morena, Natasha Felix, Panmela Castro, Patricia Ruth, Priscila Rezende, Rosana Palazyan, Val Souza, Zahy e, aqui presentes, Natasha Felix, Rogéria Barbosa e Vanessa Alves.
Este encontro hoje, que acontece propositalmente no contexto da exposição e agora nestas páginas, foi trançado coletivamente com três pessoas que foram afetadas pelo falatório de Stella do Patrocínio e realizam trabalhos de muita relevância e que apresentarei agora brevemente através de suas próprias palavras:
Sara Ramos é pesquisadora, editora, tradutora e poeta tocantinense. Mestra em Literatura Comparada pela UNILA, tem muito respeito pelas palavras, sejam escritas, faladas ou corporificadas, por isso as persegue. Atualmente vive no Rio de Janeiro e é autora da plaquete Pequeno manual da fúria (2022).
Natasha Felix é poeta e performer. Em suas performances, investiga as interlocuções entre corpo negro, palavra falada e interseções com outras linguagens, como a dança, a música e o audiovisual. Participa da exposição com um trabalho que foi — ela vai falar dele melhor do que eu — feito a partir desse encontro, desse atravessamento e demais pessoas importantes em uma espécie de triangulação.
Anna Carolina Vicentini Zacharias se ocupa com ofícios de artesã, educadora e pesquisadora de doutorado em Teoria e História Literária no Instituto de Estudos da Linguagem, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É mestra pelo mesmo Instituto, autora da dissertação Stella do Patrocínio ou retorno de quem sempre esteve aqui (2023).
Na parte da manhã, nós conversamos bastante sobre a centralidade da escuta na construção dessa exposição. Essa exposição é um convite à escuta, em especial ao falatório de Stella do Patrocínio. Também na parte da manhã, Vanessa Alves, artista residente no Museu Bispo do Rosario, falou da proposta que fizemos para seu processo de criação para a exposição a partir do contato com o falatório de Stella do Patrocínio, que eu quero trazer novamente: não buscar modos de reprodução ou tradução do falatório na construção do seu trabalho, mas, através dessa relação de atravessamento e afeto, buscar o que dessas palavras, o que dessa força, o que dessa potência Stella fica no corpo, o que disso ela incorpora. O que ela escuta? E de que maneira essa escuta reverbera no seu trabalho como artista? Então, o nosso convite a vocês também é que façam um exercício de atenção e escuta, pensando/sentindo o que do falatório, da voz de Stella e das reverberações que Anna Carolina, Sara e Natasha vão trazer, vibram e ficam encarnadas no corpo. O convite é para que cada pessoa possa se perguntar: “De tudo que foi dito, o que eu escutei? O que será esse eco na minha cabeça?” Tá? Beleza? Então tá. Quer complementar alguma coisa?
Jessica Gogan: Só queria trazer uma reflexão da pesquisadora afro-americana Saidiya Hartman que fala sobre a importância de artistas oferecendo modelos para desordenar o arquivo, arrumando e transformando seus materiais para olhar seus documentos de baixo, da perspectiva daqueles no porão, contestando os regimes do fato e da verdade. Acho que buscamos hoje, com Sara, Natasha e Anna Carolina, trazer essa desordenação potente e nos fazer sentir escutas outras. Também gostaria de parabenizar Anna Carolina e Sara, pelas suas pesquisas maravilhosas, e Natasha, pela sua performance comovente na abertura da exposição. Agradeço imensamente a colaboração de vocês e à turma por estar conosco e também faço minhas as palavras de ser fã da Diana e do Museu Bispo do Rosario. É muito raro ter esse cruzamento, esse emaranhamento poético e crítico da arte, educação, curadoria, pensando a instituição de uma nova maneira. Agradeço o acolhimento e este tempo precioso de estar junto.
Sara Ramos: Quero primeiro pedir licença, agradecer pelo convite e por todo trabalho que está sendo feito aqui no museu; estou muito contente de estar aqui hoje. Algo muito bonito sobre o nosso primeiro contato pessoal — eu, Natasha e Anna Carolina (Carol) — é que nele nos sentamos para escutar Stella. Nós já trocávamos virtualmente, e a primeira vez em que nos vimos foi em função desse movimento de fazer uma escuta atenta e essa transcrição. O trabalho de Carol foi realmente norteador para nossos encontros, e vai ser ela a iniciar as falas porque sua pesquisa fornece um panorama muito interessante sobre a trajetória da Stella, sobre as lacunas, os arquivos, as mediações institucionais e todo esse contexto como um todo.
Natasha Felix: Boa tarde. Obrigada pela presença. É bem importante esse tipo de articulação. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que esse tipo de movimentação coletiva é de fato o que a gente faz naturalmente quando estamos pensando Stella, nos voltamos para o coletivo quando falamos sobre ela. Nós duas moramos juntas, Sara e eu, tem esse dado, depois eu conto essa história. Carol morou conosco um tempo também, então foi uma coisa muito forte para a gente esse encontro. A escuta de Stella desde o início nos aproximou, então ter essa rede aqui é muito importante para conseguir articular conjuntamente em torno de uma história que tentaram apagar. A memória de Stella em si foi violentada sistematicamente, e uma história que foi amalgamada por sucessivos erros, e erros da branquitude no fim das contas, no sistema da branquitude. Então essa revisão é contínua e é sem fim. Toda vez que a gente volta a escutar Stella, se depara com algo diferente. São articulações que vão se envolvendo ali e não param, porque esse arquivo é na verdade um arquivo corrompido, então fizemos um trabalho de hackear essa memória também. Quando a gente tem lacunas, a gente hackeia para encontrar maneiras de falar sobre as fissuras. E aí a preocupação é sermos cada vez mais respeitoses com a memória, principalmente de uma pessoa que não está mais entre nós.
Eu lembro a segunda vez que eu vim aqui. Luis [Carlos Marques] estava com a gente, artista do [Ateliê] Gaia3, e a gente estava falando sobre fazer justiça com Stella — “eu não sei fazer justiça”, fala dela retomada na música da Linn da Quebrada que colocamos aqui em looping antes de começarmos essa fala. A justiça foi um dispositivo para termos uma conversa com os artistas do Gaia. E Luis falou: “O grito não acaba”. Aí ele gritou e falou: “Está vendo? Não acaba”. Então tem uma coisa da voz que permanece ali no imaginário, tem uma responsabilidade em torno dessa voz que é o corpo — corpo, voz e vice-versa.
Bom, eu, Sara e Carol vamos alternando e quem se sentir à vontade para falar também… acho que tem uma coisa de uma conversa mais livre que a gente vai tocando junto.
Anna Carolina Vicentini: Boa tarde a todas, todos e todes. Como não pude estar no evento presencial, eu ganhei a oportunidade de editar o documento que registrou essa conversa. Então eu gostaria de agradecer especialmente à Jessica por permitir que, depois daquela ocasião, eu pudesse deixar algumas considerações a respeito desse tema, ao qual me dedico há cerca de oito anos. Na ocasião presencial, Natasha e Sara, duas mulheres muito queridas, leram o texto que escrevi na Revista Cult, em 2020, que chamei de “Stella do Patrocínio, ou o retorno de quem sempre esteve aqui” ⁴ . Gostaria de agradecer por isso, mandar um beijo e saudar a Diana, por se comprometer em mudar os discursos produzidos a respeito de Stella do Patrocínio e do falatório. Também saudar Rogéria, Lucas e Vanessa, pelas considerações de escuta.
A licença, Stella, pra dizer a respeito da sua vida, mas pra refletir a nossa historiografia. Desde o início da minha pesquisa até hoje, é evidente que houve transformações importantes em relação à recepção de Stella do Patrocínio. Como o texto que escrevi pode ser acessado na internet, gostaria de aproveitar este espaço produzindo um outro texto, para que as costuras das conversas continuem alinhadas, mas com uma liberdade um pouco maior… Ali, naquele texto lido por Sara e Natasha, eu pretendi divulgar os principais resultados da minha pesquisa. Eu tinha um pouco de pressa de publicar alguma divulgação, porque penso que alterações graves na edição do falatório e na biografia de Stella não podiam mais operar entre a gente como se fossem verdadeiras. Então eu agora vou contar essa história já com os levantamentos do trabalho.
Stella do Patrocínio nasceu em 9 de janeiro de 1941, no Rio de Janeiro. Ela viveu durante 21 anos em liberdade, e essa parte da vida dela quase não se tem notícia, a não ser pelas memórias de um de seus sobrinhos, com quem conversei, e que morou com ela por alguns anos. Ele disse que ela vivia agarrada em cadernos, que pretendia conseguir outros empregos e não ficar só nos serviços como doméstica, como a mãe dela. Ele me falou que Stella lia e escrevia muito bem, e que essa maneira de elaboração de fala é coisa dela e também da mãe dela, a Zilda Francisca. As duas tinham uma maneira bem parecida de se comunicar.
Stella do Patrocínio teve alguns irmãos homens, que morreram cedo, e duas irmãs mulheres. Essas chegaram à vida adulta, se casaram e tiveram filho(s), mas também já morreram. Nalguma manhã, tarde ou noite em Botafogo, quando Stella estava na rua Voluntários da Pátria, aos 21 anos, ela teve um incidente com a polícia que iria mudar o rumo de sua vida pra sempre. Ela não estava sozinha, mas com o Luiz, um amigo. A polícia pegou ela num sequestro e mandou ela pra um pronto-socorro, ali mesmo em Botafogo. Era 1962, lá pra agosto. Então levaram ela pra um hospício no Engenho de Dentro que já tinha internado a mãe dela, com o diagnóstico de depressão. Zilda já tinha perdido três filhos homens. E foi parar no hospício por causa de depressão. Stella e suas irmãs cresceram apartadas da mãe.
Mas, quando Stella chegou ali, no Engenho, a Zilda já estava na Juliano Moreira, só que Stella também foi transferida pra lá. Em 1966 elas começaram a conviver no mesmo Núcleo, o Teixeira Brandão. Nenhuma das duas tinha nenhuma prerrogativa de alta médica. Nessa época, a Juliano Moreira era destinada pras pessoas que morreriam ali, sem prerrogativa de alta médica, funcionando como um verdadeiro “fim de linha” dos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro.
Nem aviso de morte eles davam pra família. O sobrinho de Stella disse que ia com a mãe fazer visitas pra Stella e pra Zilda, mas num dia que eles chegaram lá — e a data aproximada ele não se lembra — deram a notícia da morte da Zilda. Ela já tinha sido enterrada e como indigente. Só contaram porque alguém perguntou.
Nos anos 1980 é que a coisa começou a mudar, e agora queria atentar que tô contando sobre a biografia de Stella, mas tô contando sobre a historiografia dos hospícios no Brasil: como eles funcionavam, como a polícia agia pra higienizar as cidades, enfiando as pessoas nos hospícios. Eles diziam que precisavam tratar doenças, mas na realidade estavam encarcerando mesmo, produzindo doença, retirando a liberdade, impedindo o direito de ir e vir, transformando pessoas em pacientes e tirando delas até o próprio poder de fala. Comumente hospícios foram denunciados por maus tratos, tortura com eletrochoque e outros. O diagnóstico era a sentença à prisão hospitalar e também ao silêncio, porque tudo o que uma pessoa com diagnóstico dizia era entendido como inverdade, como delírio, como algo que não poderia ser levado em consideração.
Então a gente já pode perceber que tá diante de uma história que perpetua violências nesse núcleo familiar. No fim dos anos 1980, a Zilda já tinha morrido, mas Stella ainda estava no hospital psiquiátrico, tomando eletrochoque, sendo vigiada, tendo que dividir o mesmo espaço com um mundaréu de mulher, porque os quartos eram superlotados, não tinha privacidade.
Ela, que antes estudava pra conseguir outros tipos de trabalho, foi pega pela polícia, essa mesma instituição que ainda hoje produz morte e encarceramento. Sobretudo de pessoas negras, como Stella e Zilda. Então não deu tempo. A polícia chegou antes de Stella realizar o que pretendia; o hospício chegou antes, e eles vieram pra deter, controlar, interromper.
Isso tudo, esses problemas do hospício, começaram a ser discutidos nos anos 1980, quando um movimento começou a ganhar ênfase no Brasil. Ele se chamou Luta Antimanicomial. Esse movimento está operante ainda hoje e enfrenta vários desafios, mas agora são outros. Naquele início da consolidação da Luta Antimanicomial, o intuito era mudar a operacionalização das práticas e saberes psis. Eles começaram a reivindicar espaços de saúde para populações que precisavam de cuidados médicos no campo da saúde mental. Os hospícios são historicamente um lugar de produção de doença e de tortura deliberada. Stella do Patrocínio falava disso também.
Então começaram a perceber que o eletrochoque, a superlotação, os castigos, as vigílias, o aprisionamento em regime fechado, a exploração de trabalho, muitas vezes também graves abusos de autoridade e violências acometidas pelos guardas eram práticas recorrentes desses lugares. Tem até um trabalho chamado Holocausto Brasileiro, que é fruto da pesquisa da jornalista Daniela Arbex lá em um hospício de Minas Gerais. Aquele hospício foi o responsável por um dos grandes genocídios do Brasil. Lá aconteceram algumas singularidades, mas muito daquele funcionamento desumano é regra, não exceção, nas unidades de asilo. Os hospícios são um aparelho de genocídio, de memoricídio, de tortura. É bem doloroso ter que dizer esse tipo de coisa, mas esse passado precisa ser contado dando a responsabilidade pra quem de fato a possui.
Aí que no espaço da Colônia Juliano Moreira não foi diferente. Esse espaço herdou não só o terreno, mas muitas das práticas escravocratas. Digo isso porque, antes de se tornar hospício, o lugar era uma fazenda escravista. Igual o atual Instituto Municipal Nise da Silveira (antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II), aliás. Daí que esses antimanicomiais passaram a querer transformar aqueles ambientes. Eles reivindicavam, entre outras coisas, a humanização das práticas de assistência à saúde. Os maus tratos eram realmente um escândalo. Saiu matéria sobre a precariedade da Colônia Juliano Moreira mais ou menos nessa época, nos anos 1980. Essa reportagem passou no Fantástico e reverberou bastante, pelo choque dos telespectadores e diversos meios de comunicação noticiados de que aquilo acontecia no Brasil.
E quem era a população majoritária? Pessoas negras, mulheres, pessoas com baixa renda e baixa escolaridade, com pouco ou nenhum vínculo familiar. Não há dúvidas de que estamos falando de higiene social, racismo, sexismo, guerra de classes e outros problemas mais que constituem a nossa formação nacional. Crimes, né? São crimes de Estado. Isso precisa ser colocado com nome. Eu não consigo chamar de outro jeito.
Na vida institucional de Stella, a coisa começou a mudar com a chegada de um projeto de humanização do espaço asilar, graças a pessoas antimanicomiais que agora trabalhavam na Juliano Moreira. Então criaram um projeto de arte. Uma das assistentes desse projeto, que se consolidou como um ateliê livre de produção artística, começou a gravar o que Stella do Patrocínio falava. Essa era Carla Guagliardi, que até pouco tempo atrás guardou o acervo do falatório em fitas. Eu me lembro de quando ela passou pra CD, na ocasião em que pedi os arquivos pra ela. O projeto durou pouco, de 1986 a 1988, mas outra pessoa entrou nessa história pra gravar o falatório também, e essa pessoa fez um trabalho muito bonito, porque além de gravar e conversar com Stella, ela também levantou dados biográficos dela, procurou familiares, porque ela queria que Stella recebesse alta. Ela me disse, quando conversamos, que ela queria dar um passado a quem não tinha mais esse passado. Mas ela não conseguiu encontrar ninguém na época, entre os anos 1990 e 1991. Eu tô falando da Mônica Ribeiro de Souza, que trabalhava como estagiária em psicologia. A Mônica foi a primeira funcionária da saúde a registrar, nos arquivos do hospital, que Stella declamava poesia, retirando a fala dela do lugar do delírio que não consegue comunicar. Dando uma escuta outra para aquilo que Stella estava comunicando, e muitos funcionários riam dela por isso. Mônica não dava ouvidos pros risos e deboches, ela estava interessada em realmente conseguir uma alta médica, uma possibilidade de liberação de Stella daquele lugar onde ela nunca devia ter ido parar. Mônica chegou a datilografar transcrições daquelas conversas com Stella, pegou algumas coisas dos áudios da Carla e fez um livrinho, que entregou como relatório, chamado Versos, reversos, pensamentos e algo mais… Essa também foi a primeira vez que o falatório foi transcrito e colocado em formato versificado.
Ali tem bastante coisa do falatório que não tem nos áudios da Carla Guagliardi. Outras conversas, outros rumos. As fitas se perderam, então ficou o registro escrito. Foi só durante os anos 1986 até 1991 que os registros do falatório foram feitos. Esse é o legado intelectual que temos acesso, que Stella do Patrocínio nos deixou. E também um caderno onde escreveu, desenhou flores, contornou as suas mãos, jogou o jogo da velha.
Postumamente, quase dez anos depois de Stella ter morrido, uma filósofa, Viviane Mosé, editou e selecionou esse material, tanto de Mônica quanto de Carla, e produziu um livro que acabou nomeando Stella do Patrocínio como uma poeta brasileira. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome, publicado em 2001 pela Azougue editorial, apresentou Stella do Patrocínio fora do contexto hospitalar, no mercado literário.
Mas o jeito que isso aconteceu repetiu bastante as narrativas lá do hospício. Por exemplo, uma coisa que sempre me botou uma pulga era: como uma poeta é apresentada com uma biografia que só fala de ação de terceiros e nunca dela mesma? Por que a biografia dela está inteiramente associada à internação de caráter involuntário? Como é que as coisas são tão dadas de barato que as práticas do hospício, os motivos de internação, o próprio falatório não são informações consideradas pra que se apresente essa trajetória?
Aos poucos, fui percebendo que Stella está menos atrelada ao hospício do que aqueles que a narram. Isso porque aquele foi um espaço sempre negado por ela. Escuta, pô, ela tá falando, é disso que se trata. Então a literatura acabou produzindo, novamente, uma outra. Então, se o falatório, que é a voz dela, foi reconhecido sem que tenha sido ouvido de fato, esse reconhecimento é parcial.
Nem mesmo o nome dela era escrito corretamente. Não só a biografia, mas o próprio nome de Stella foi mutilado. No caderno onde ela fez anotações e desenhos, ela escreveu o seu nome a próprio punho: Stella do Patrocínio. Assim, com dois L, não apenas um, como o livro a apresentou. Quer dizer, essa mulher, denominada poeta em 2001, ao mesmo tempo que se tornou visível, foi invisibilizada. Stella é poeta e personagem pra essa literatura que a autorizou no mercado literário. Essas narrativas todas foram construídas não só à sua revelia, como em negação ao que ela dizia.
Depois que o livro fala que Stella não recebia visitas, o que também é um erro. Isso produz a ideia de que ela tinha sofrido abandono familiar, o que é muito diferente de ter sido capturada pela polícia e negligenciada pelo hospício. As histórias não foram devidamente contadas. De novo, queria dizer que Stella mesma conta esse momento em mais de uma ocasião. O motivo de morte dela foi também narrado de uma maneira questionável. O livro diz que ela se recusou a falar e a comer, entrando em total mutismo, mas na realidade ela sofria as consequências de uma amputação, sendo uma pessoa com diabetes que teve complicações e entrou em estado de torpor antes do coma, que anunciava a sua morte em 20 de outubro de 1992. Stella foi enterrada como indigente, igualzinho aconteceu com a sua mãe. Não existem restos mortais. Elas não tiveram direito a um túmulo nem mesmo a uma gaveta.
Se o falatório é uma contraofensiva, se é a negação dos discursos hegemônicos produzidos a respeito das instituições asilares, da própria Stella do Patrocínio e de tensões raciais, sociais e políticas no Brasil, e ele pode ser lido à luz de tudo isso, então faz sentido que a literatura, com sua trajetória tão marcada por diversos jogos de poder, o silencie. A literatura operou como outra grande sentenciadora de Stella, que pretendeu dar a palavra final a respeito dela. Que, falando sobre essa trajetória de vida, jogou toda a responsabilidade no colo de Stella do Patrocínio. Então, olhar pra tudo isso, colocando os devidos contextos, é uma tarefa que não pode ser deixada de escanteio. Essa história precisa ser contada direito — e, se for contada direito, ela vai trazer à tona muita merda em relação aos poderes de Estado, ao funcionamento dos hospitais psiquiátricos, à nossa formação nacional, entre outros.
Também não posso deixar de mencionar, pra finalizar, que percebi — na etapa de comparação do livro com as fontes originais utilizadas para a sua produção — que, além de inserir palavras, recortar trechos e reordenar sentenças, entre outros, a equipe de editoração deixou escapar uma enunciação que, na realidade, não é de Stella, mas de Ivonete Barbosa, também internada no Teixeira Brandão durante os anos 1980. Ivonete apareceu em um documentário chamado Strultifera Navis, dirigido por Clodoaldo Lino.
Esse poema do livro acabou circulando diversas vezes em peças de teatro, revistas de divulgação literária e trabalhos acadêmicos:
Nasci louca
Meus pais queriam que eu fosse louca
Os normais tinham inveja de mim
ue era louca.
Aos 15 minutos e 45 segundos, Ivonete aparece no documentário, enunciando exatamente as mesmas palavras. Seu discurso é mais longo, ele também foi cortado, transcrito e versificado para compor Reino.
Esta descoberta foi bastante importante porque não há nenhum indício de que Stella do Patrocínio elogie a loucura. Ela jamais se refere ao seu diagnóstico com o termo “loucura”, mas “doença mental”. Esse termo que ela escolheu funciona como uma negação do seu pertencimento naquele ambiente. Além disso, a invenção dessa autodenominação de Stella como louca acompanha o apagamento da crítica racial que Stella também faz ao narrar a sua captura.
O falatório é uma leitura a contrapelo do arquivo, e o livro a lançou cumprindo justamente um novo papel de arquivo, contra Stella, contra as suas narrativas, contra a sua memória. Então, estamos falando de uma trajetória em que memória, esquecimento, visibilidade, invisibilidade, silenciamento, intelectualidade, objetificação, reconhecimento, fetiche estão operando. Todos os contrastes, nenhuma contradição. Eles operam na trajetória de Stella do Patrocínio a todo momento e se conversam e se encontram.
Eu lamento profundamente que minha fala precise dizer esse tipo de coisa, como a defesa da necessidade de escuta do falatório. Defender o óbvio é uma tarefa que não me agrada, mas que estou disposta a exercer quando for preciso.
Para lembrar Stella, não podemos inventá-la.
Eu fico por aqui, que tem muito chão ainda de debate pela frente. Um abraço.
Sara: Seu trabalho, Carol, além de toda a pesquisa documental que traz — fundamental, sobretudo quando a gente fala dos falsos arquivos e de como eles acabam construindo discursos, narrativas e proliferações deliriosas sobre o outro —, evidencia o cerne dos problemas éticos dessa construção de Stella. Quando enfatizamos o fato desse poema ter sido incluído no livro sem que tenha sido falado por Stella, sem que seja parte alguma do falatório, é porque isso evidencia, de forma esdrúxula, como a produção de commodities culturais se sobrepôs à textualidade em si de Stella. Esse foi um dos agenciamentos, feito através de violação textual, para que essa representação se tornasse vendável: um corpo negro louco, que proclama e elogia a própria loucura.
Stella exibe uma consciência racial em suas falas que por muito tempo foi negada. Quando escutamos, percebemos isso muito bem e, da mesma forma, é possível notar como todo esse discurso que elege uma voz da loucura não passou de uma construção para atender a um agenciamento, fruto desse alinhamento entre a instituição literária e a instituição manicomial. Fazendo essa escuta atenta e passiva, conseguimos caminhar junto com Stella e não cair em armadilhas de fantasias epistêmicas, equivocadas, e que realmente invisibilizam toda a filosofia, a poesia, a oralitura e os demais saberes que ela traz. O falatório tem poesia, tem filosofia, tem crítica social, tem muitas facetas. Ele é pleno de opacidade, e não pode ser resumido a uma única coisa. Algo que precisamos sempre lembrar é que esses arquivos que querem instaurar uma história única a respeito desses corpos devem ser constantemente combatidos.
Natasha: Uma coisa que a gente vive discutindo é essa nuance da mudança de estatuto. Do estatuto da loucura, a Stella foi para o estatuto da poeta, mas sem ser desvencilhada da loucura, então virou a poeta louca. Para ser considerada um objeto de interesse na literatura, é importante que ela tenha essa minibio… todo o contexto de ter sido uma mulher encarcerada, sequestrada. Mas ter esse discurso da loucura atrelada à literatura está muito ligado a uma historiografia, uma tradição literária de consumo e de constante busca fetichista e romantizada do que é o Louco. E estamos falando de uma pessoa que passou mais de 30 anos da vida condenada ao estatuto da loucura. Sara, você pode falar também sobre os áudios estarem em domínio público agora… E, assim, temos um novo olhar para a história da Stella, que não depende do livro, que não é fidedigno, não é verossímil aquilo, não é compatível à voz.
O que a Viviane Mosé propôs é uma releitura, é uma outra narrativa para o falatório da Stella, que não necessariamente corresponde ao que é o falatório. É importante dizer que conheci a Stella pelo livro, então eu conheci pelo erro, como muitas pessoas. É o primeiro contato que a gente tem. Essa é uma oportunidade de revisão crítica porque partimos de um material que precisa ser revisitado, precisa ser analisado e precisa ser criticado, justamente porque nos coloca em contato com uma narrativa fragmentada. Tem uma problemática aí que é: depender do texto escrito encerra nossa leitura sobre Stella, nos distancia dela, não a escutamos de fato. Eu tive meu primeiro contato com esse livro há seis anos. Agora estou com 26, eu estava com 20 para 21 anos, então era tudo muito novo. Naquela altura, tive a oportunidade de fazer uma performance no espetáculo Black Poetry, em São Paulo, com um fragmento do Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. A pessoa que me convidou para o projeto me perguntou: “Que material, que poeta que você tem mais intimidade agora para a gente fazer essa performance teatral?”. Aí eu falei “Stella”, porque eu estava lendo muito, estava decorando. Eu gosto de falar desse momento porque é uma coisa que eu não repito mais. Junto com a performance, além da minha voz tinha um acompanhamento sonoro. E nesse acompanhamento tinha o uso intencional do reverb, que quando eu falava ficava ecoando, o que conotava e rememorava essa ideia do corpo esquizofrênico. Isso era uma escolha mobilizada pela estética apenas. Aquela escolha era um erro.
Agora, seis anos depois, principalmente depois de ter tido contato com Carol, depois com Sara, depois com outras pesquisadoras, como Jota Mombaça, a gente tem outras possibilidades de leitura para isso que não encerram essa chave da literatura com a loucura romantizada, porque aquilo foi sim um movimento de romantização. Então é cuidar para não repetir isso porque a gente está sempre suscetível a essa narrativa, ela é muito introjetada. Então esse movimento de ter uma exposição que provoca esses outros olhares para esse material, para esse corpo arquivo, é importante para conseguir fabular outras relações com esse corpo mesmo, mais do que a voz. Enfim, desde esse momento tudo mudou, tem sido um grande processo.
Fiz uma performance mais recente com a Bianca Chioma, poeta de São Paulo, chamada Muito bem patrocinada. Essa performance ainda era baseada no texto da Viviane Mosé, nós ainda não tínhamos acesso aos áudios. Naquela altura, Carol me chama no Instagram e fala: “Olha, tem um poema do livro que não é da Stella. Estou vendo que você está pesquisando a Stella, fazendo performances e estou acompanhando. Acho que a gente precisa conversar”. Quando ela me mandou essa mensagem, pensei: “Quem é essa garota? O que é isso?”. Falei: “Pega o meu WhatsApp agora, vamos conversar”. E aí ela me mostrou o documentário e eu vi 30 mil vezes até entender que realmente era outra voz. “Esse é o único poema do livro que a Stella reivindica a loucura, ela não faz isso em nenhum outro trecho do falatório, dos quatro CDs, isso não acontece”. Eu falei: “Caralho, quem é essa mulher?”. E aí foi isso. E desde então a gente começou a trocar muito. Na pandemia, então, a gente passava dias bebendo e conversando. A gente fazia assim, começava às oito da noite e terminava às seis da manhã conversando e tendo toda uma relação mais aproximada. Por que eu comecei a falar isso? Por conta da questão em torno da revisão crítica, porque ela vai se formulando ao longo do tempo. Então acho que o livro, ao mesmo tempo que ele tem essa materialidade que permitiu que mais pessoas tivessem acesso a essa história, limita essa memória. Agora que temos acesso aos áudios, sinto que o movimento que a gente tem que fazer é se concentrar nisso, nesses áudios mesmo, porque ali é onde Stella se anuncia. Se é para entender ela como poeta, como é que isso vem a partir da oralidade? Como é que isso vem a partir da linguagem que ela formula nesse movimento de oralitura mesmo, da Leda Maria Martins, que é do recurso da voz, não do papel. Acho que é um pouco isso. Acho que dá para você, Sara, falar um pouco do domínio público.
Sara: Eu também comecei errando. Comecei pelo livro, mas acho que a grande maioria também. A partir de agora talvez isso mude… a forma desse primeiro contato com Stella. Mas, de primeira, quando me deparei com aquele livro, eu fiquei me perguntando: “O que é isso?”. Me desconcertou, me bagunçou e eu não entendia muito bem o porquê. Havia uma desconfiança ali, mas que estava no registro do que era impossível nomear. Durante o mestrado, iniciei um processo de pesquisa da fortuna crítica e, a partir da fortuna crítica, que foi feita majoritariamente a partir desse arquivo do livro, eu começo a sentir vários incômodos. Tem de tudo. Há trabalhos muito bons, que vão por campos muito diversos… mas algumas constantes apareciam, como por exemplo essa perspectiva de colocar a textualidade de Stella ou no registro do delírio e da loucura, ou no registro da cultura mínima, do resquício do que é cultura, daquilo que é instintivo, que é primitivo, que é selvagem… termos que a tradição ocidental branca usa, desde sempre, quando quer descrever os trabalhos afetivos e culturais da população negra.
Quando finalmente consegui ter acesso a esses áudios, e também através do trabalho da Carol, que firmou uma base comparativa interessante para pensar o que havia de diferente entre o livro e os áudios, pude perceber que esse poema que a gente já tratou aqui é um exemplo, mas ele não é um exemplo isolado, essa textualidade inteira é construída com base em corte, em desmembramento, em colagens. Existem outros versos que não estão registrados em nenhum outro lugar e que foram acrescentados ali. Todo o trabalho de fortuna crítica que surge a partir desse livro, apesar de a gente poder fazer críticas individuais a cada texto, todos eles estão sendo fundamentados a partir de um falso arquivo. Então, de certa forma, não dá para jogar toda essa problemática em cima dos trabalhos em si, mas em todo o movimento colonial, que é o contexto amplo em que eles se inserem. O que a gente pode perceber é que todo aparato colonial geralmente tem as mesmas estratégias: a captura, o desmembramento, a violação. Isso foi o que aconteceu com o corpo de Stella, que foi apartado da sociabilidade, encarcerado no manicômio, violado de diversas formas, e todas essas estratégias aconteceram também com a textualidade de Stella, com o falatório. Então, vemos que as mesmas táticas da vida econômica e social colonial, assim como as bases do funcionamento das instituições, são reproduzidas nas instituições culturais, na literatura, nos museus e em todos esses espaços de cultura. E aí, trocando muito com Carol, Natasha e Carla também, a gente foi compreendendo que de fato era urgente que Stella pudesse devolver, de alguma forma, pela voz dela mesmo, e que esses áudios estivessem não só em domínio público. Se você disponibiliza esses áudios para um museu, por exemplo, eles estão em domínio público, mas um pesquisador que queira acessar teria que ir até um espaço físico, preencher todo um formulário para poder ter acesso. E então entendemos a importância do acesso público — esse foi o motivo da movimentação para que esses áudios fossem disponibilizados junto a um trabalho acadêmico, e, por coincidência, acabou sendo o meu, para que estivessem associados a um repositório online e institucional. Atualmente, eles estão disponibilizados no repositório da UNILA, que foi a universidade em que concluí o mestrado⁵.
E, pensando nesse processo todo, a gente também decidiu fazer uma transcrição. E de novo, o foco agora, como a Natasha estava falando, é óbvio que devem ser os áudios, porque por muito tempo foi o texto escrito e a gente pôde ver o tanto de problema que isso causou. E a voz é um outro registro, existe modulação, existe timbre, intromissão. Não era um espaço reservado em que Stella e sua interlocutora estavam falando; elas estavam ali no Núcleo Teixeira Brandão, dentro da instituição manicomial que internava mais de seiscentas mulheres. Havia muita coisa acontecendo. Havia toda uma tensão envolvida naquela situação que só é possível de a gente sentir, e sentir minimamente, através desse arquivo que é o mais próximo da memória viva: os áudios. Ali, ouvimos uma voz que sai de uma garganta, de um corpo. Eu acho que a letra ali, a escrita, já tira um pouco de corpo, já despersonifica um pouco. E a ideia dessa transcrição era que ela fosse integral, então a gente buscou manter ao máximo os traços da oralidade, das interrupções, dos sons externos — de repente um carro passando, um gato miando, uma música de fundo. Então, procuramos manter tudo isso, tendo em mente que é uma tarefa difícil, que é uma tarefa contínua e que não tem como haver uma transcrição oficial dos falatórios de Stella — essa é uma tarefa impossível. Mas a gente fez isso sobretudo pensando que nem todo mundo escuta, e que nem todo mundo pode ter acesso a bons equipamentos de áudio. A gente, por exemplo, ficou trocando, uma hora usava uma caixa de som, depois trocava por outra caixa de som, depois por um ou dois fones de ouvido diferentes. Também tentamos melhorar a qualidade dos áudios, diminuir o ruído aqui, elevar o volume ali, esse tipo de coisa.
Sua voz é sua, é sua identidade. Mas a oralidade tem disso: muita coisa que nenhuma de nós três havia escutado sozinha, juntas a gente conseguiu escutar, então por isso que eu acho que esse movimento aqui pode trazer muita coisa interessante para a gente. Eu acho que o convite é esse. Então, se a Natasha quiser acrescentar alguma coisa, eu posso ir procurando os arquivos pra gente escutar.
Natasha: Eu ia falar desse processo que durou uns três dias, que foram os dias em que a gente estava se conhecendo. Era: “Oi, boa noite. Senta aí, bota o fone”. E tiveram trechos que a gente voltava, a gente ficava uns 20 minutos: “Não, volta, é ‘se’ ou ‘e’?”, porque mudava tudo. E na transcrição foi um trabalho exaustivo de tentar realmente estar o mais próximo possível do que é a voz. Você quer comentar?
Sara: Não, só falando que teve uma lista também de marcações para tentar sinalizar isso.
Natasha: É. A gente fez um mapa, um códigozinho, uma espécie de navegador para a pessoa conseguir entender melhor as escolhas gráficas para poder atribuir ritmo, para fazer as marcações de intromissão. Tem tudo isso e junto com a nota das transcritoras que a gente escreveu. A gente entrou em um processo de fazer essa transcrição, e dois meses depois a gente estava morando juntas. Foi isso que aconteceu, essa foi a história. Sara veio do Tocantins, Carol do interior de São Paulo e eu de Santos. E esse processo foi intensificado. Então, quando eu recebi o convite para fazer o trabalho aqui para o museu, tinham outras questões no meio disso, inclusive afetivas. Aconteceu que eu fiz uma escolha de me relacionar com uma parte específica do falatório, que é a parte em que a Stella fala do “malezinho prazeres”. Ela diz: “Eu sou um malezinho prazeres”. Tem uma coisa do malezinho prazeres que é um momento em que a Stella se dedica a fabular a própria história de um jeito muito específico e que ela cria essa expressão. Eu não encontrei nenhum registro do que seria o malezinho prazeres… topei com a Revolta dos Malês, um bloco de carnaval em Salvador chamado Malezinhos e só. É um momento em que ela está falando: “Eu quero fazer uma maldade, eu quero sair daqui”.
Sara: Esse é o do malezinho.
Natasha: Quer colocar? Que aí eu não explico, a gente escuta.
Falatório: [Stella com letra em itálico / interlocutor com letra regular]
Não quero ir não. Eu tô com tanta saudade de você, Stella. Hoje é quarta-feira. Pois é, é o dia que eu venho te ver. Eles não querem deixar mais eu passar pelo portão. Mas a gente não vai no portão não, a gente só vai ali no galpão ficar sentadinha ali no galpão. Ah não quero ir não. Cê tá com frio? (Não tô) está fazendo muito frio mas agora o frio já passou. Essa noite cê sentiu frio? Senti. Não tinha cobertor? Tinha. Você hoje tá tristinha [parece falar com outra pessoa: não, não mexe, não mexe <tá vermelho>]. É porque eu não sei o que fazer da minha vida por isso é que eu tô triste. E fico vendo tudo em cima da minha cabeça em cima do meu corpo. Toda hora me procurando me procurando, e eu já carregada de relação sexual, já fodida, botando o mundo inteiro pra gozar e sem gozo nenhum.
Natasha: É, não é essa parte não. A gente separou três áudios.
CD um, áudio dois. Mas a gente fez o corte.
Diana: Que ela fala que quer pôr a família de cabeça para baixo?
Natasha: É. Ela fala que vai botar a família de cabeça para baixo. Enfim, eu parti desse trecho específico, porque escutar Stella é muito difícil também, exige muito uma disponibilidade para ter uma relação com uma fala que é de quem foi violentado durante muito tempo, a vida inteira. E isso está impresso na voz, não tem jeito, isso é incontornável. Todos os áudios têm essa relação que é muito dura também. Tanto que a primeira vez foi isso, um choque. Não foi uma sensação de: “Nossa, que coisa maravilhosa”. Foi uma angústia, porque é muito distante ao mesmo tempo, tanto a realidade dali, daquela situação específica, quanto temporalmente daquele corpo. Tem umas distâncias ali e umas aproximações que vão acontecendo por meio da imaginação. A voz traz isso. E aí o que aconteceu foi que, em paralelo ao movimento de pensar o trabalho para cá, eu estava começando a me relacionar com a minha avó paterna, que é a Antenora Francisca Santos.
Eu conheci a Antenora em dezembro do ano passado. Tem uma história muito complexa familiar para a gente não ter se conhecido antes, mas a gente se conheceu em um sonho na pandemia em que Antenora me ligava, e quando eu atendia a Stella falava comigo. E, desde então, isso foi um disparador para que eu tomasse um pouco as rédeas da situação e falasse: “Não, eu vou atrás dessa pessoa, preciso conhecer ela. Ela está aqui em mim de alguma maneira e eu preciso entender o que é isso”. Demorou uns meses, pandemia, e em dezembro do ano passado eu fui para Santos e, no Natal, eu fui até a casa dela e a gente começou uma história juntas. E a minha avó, essa mulher preta, sapatão, incrível, que foi cafetina, que foi cobradora, dona de bar, distribuiu panfleto para a Leci Brandão agora há pouco, muitas coisas e muitas facetas, que na real a gente se relacionou de um jeito muito bonito. E aí quando eu recebi o convite para cá, eu falei: “Preciso fazer essa triangulação, não tem como eu escapar disso. Isso está no meio, não consigo parar de pensar nela”. Então aqui na exposição tem uma fotografia da minha avó que tirei em um dos nossos encontros, e a performance que eu fiz no dia da abertura, junto com Saskia e Heleine Fernandes, veio desse lugar do que é um malezinho prazeres. Por que aí, qual foi a triangulação? A minha avó é um malezinho prazeres. Ela é essa pessoa da invenção, da criatividade, do desbunde, do deboche. Porque tem um lugar muito específico do malezinho prazeres na minha leitura de quase um deboche em relação àquela violência. É uma devolutiva do tipo: “Eu vou matar a família inteira e é isso que eu vou fazer, eu vou pular o muro porque eu sou malezinho prazeres, eu faço essas maldades”. Tem isso. Mas não é o que ela faz efetivamente, ela está criando aquela situação, é uma devolutiva, é uma resposta. E eu sinto que minha avó era essa pessoa que incorporava isso na experiência dela. E aí em paralelo a isso eu estava lendo Belos Experimentos, da Saidiya Hartman, que traz essa narrativa de mulheres negras desde uma perspectiva da fabulação, da criação, da experimentalidade da vida. Eu sinto que a minha avó é muito experimental, uma vida muito experimental. Na primeira vez que a gente se conheceu, eu falei: “Antenora, tu conhece todo mundo”, porque era o homem do gás parando para falar com ela, era a mulher da banquinha de jornal, era não sei quem. Aí ela virou para mim e falou assim: “Natasha, quem não conhece Antenora, não conhece ninguém, nem deus”. Eu olhei para aquilo e falei: “Que pessoa é essa?”. Era um dos primeiros contatos com ela. Então isso ficou na minha cabeça. Para a exposição, fotografia não é uma coisa que eu me relaciono, eu sou da poesia mesmo, então foi um desafio também. Acho que teve uma vontade de trazer a imagem dela por causa da gestualidade negra. A gente está vendo a Stella nessa fotografia em situação de liberdade, ela está em outro registro, está com um vestido bonito, ela está no meio da rua. É outra narrativa que se cria em torno dessa memória também, não é só a foto dentro do manicômio. Aí eu fiz essa pesquisa e, duas semanas antes da exposição abrir, minha avó faleceu. Então para mim se tornou mais importante ainda fazer essa performance, fazer esse trabalho do jeito que foi. E eu contei para ela, eu falei desse sonho para ela. E aí eu dei risada, falando: “Isso aqui é besteira”, e ela ficou muito séria, olhando para mim. E uma pessoa do axé, toda uma outra relação com o mundo também. Enfim, então tem muitas camadas no meio dessa história, inclusive afetivas. Por isso um respeito em relação à história que vai se construindo.
Falatório:
Se eu pego a família toda de cabeça pra baixo e perna pra cima, botei tudo dentro da lata do lixo e fazer um aborto. Será que acontece alguma coisa comigo, vão me fazer alguma coisa? Se eu pegar durante a noite novamente, a família toda de cabeça para baixo e perna para cima, jogar lá de dentro pra fora, lá de cima cá pra baixo, será que ainda vai continuar acontecendo alguma coisa comigo?
O que você tem medo de acontecer? Se eu viro um cavalo ou um cachorro. Não, não vai acontecer isso. Todo mundo tem esses pensamentos. O ser humano tem bons pensamentos e maus pensamentos, isso faz parte da nossa vida. Não vai acontecer nada, pode pensar à vontade. É uma coisa que é toda tua e do teu pensamento, ninguém pode invadir. É o teu arquivo, a tua memória, a tua fantasia.
E eu inda penso mais assim, um malezinho. Hm. Se eu rasgar aquela pesada no meio de meio a meio, der der der lambada no chão, na parede, jogar fora, no meio do mato, ou do outro lado de lá do muro, é um malezinho prazeres. É o que? Um malezinho prazeres. Ah, tá. Cê quer matar a família, né, Stella? Matar a família toda. Que faça um carro, bote tudo morto e vá pra longe. E quem é essa família? Teu pai, tua mãe. Não, é essa família que tá morando e me perseguindo aqui no Teixeira. Ah, tá. Quem é que tá te perseguindo? Olha quantos estão comigo. Ah. Tão sozinhos, estão fingindo que tão sozinhos, pra poder tá comigo Hm. Cê não se sente bem aqui? Cê se sente perseguida? Me sinto perseguida porque eu passo muita fome sinto muita sede muito sono muita preguiça muito cansaço. Não tem o que fazer, né, Stella? NÃO tem, fico na malandragem na vagabundagem como marginal, e como malandra. É, isso é que faz mal. Como marginal como malandra, na malandragem, na vagabundagem, na vadiagem como marginal. E cê tinha vontade de fazer o que aqui, se tivesse um tipo de trabalho pra você fazer, o que que o que cê escolheria? Comer beber e fumar. Mas isso não é trabalho, isso não é produção. Você pra, pra poder. Isso mesmo porque eu APRENDI À FORÇA Quem que te ensinou à força? Foi o… o homem que tirou uma foda comigo e teve relação sexual comigo, que me mordeu chupou roeu lambeu e deu dentada e só se fosse na boca… sem que eu menos esperasse.
Sara: Deu para entender o que é o malezinho, né? Acho que quando Stella elabora isso do malezinho prazer, me faz lembrar muito de alguns textos do Fanon, de algumas colocações do Mbembe. Eu sinto que o que Stella está operando aqui nesse momento, como a Natasha coloca, é uma fabulação, mas é a fabulação da violência com quem te oprime, uma violência que pode entrar nesse registro de violência que emancipa. Nada desse discurso de pacifista, de que o amor vai resolver todos os nossos problemas estruturais e sistêmicos, mas de colocar a violência, ainda que seja pela fabulação, pela arte ou pela poesia, como protagonista de uma trama cujo objetivo é escapar de alguma forma, de fugir de alguma forma dessas amarras.
É um mecanismo de autodefesa. O que ela possui nesse momento é a voz dela. Existe ali uma reação dialógica, com uma hierarquia claramente definida — são as interlocutoras, as estagiárias, as artistas, e Stella, uma paciente que não pode sair pelo portão, que só pode tentar pular muro e despular muro. Ela é a única que não pode sair dali, e isso nos coloca diante da desigualdade entre elas. Mas, ao mesmo tempo em que essa hierarquia é visível — olha só, estamos tão viciadas no registro que privilegia o olhar que estou falando de visibilidade —, a gente escuta que Stella não está em um lugar passivo nesse diálogo, ela está sempre respondendo dentro daqueles diálogos da forma dela. Quando ela não quer falar, ela não fala, ela se recusa a falar, ela fala como e quando quer. E se a gente não pode escutar essa voz, acho que a gente também se priva de ouvir essas respostas que dadas naqueles momentos são de tensão. Tem muito afeto envolvido, certamente. Quando conversamos com a Carla, a gente sabe que essas pessoas construíram afetos, mas existe uma hierarquia que é intransponível e que culmina em uma tensão, uma tensão que está imprimida nessas vozes.
A Stella foi construindo uma linguagem muito esperta, a meu ver, que é justamente para escapar dessas armadilhas que muitas vezes as interlocutoras colocam para ela. Algo interessante que surgiu justamente no processo de pesquisa que estávamos fazendo juntas é que pudemos notar algumas constâncias, algumas repetições. Não são repetições sempre iguais, não são repetições de identidade, são repetições da diferença. Stella usa muito o verbo “agarrar”, por exemplo, sobretudo para falar de algumas situações de violência e trauma: para falar de quando pegaram ela na rua, quando agarraram e sequestraram ela; para falar de uma situação de abuso sexual dentro da instituição; e ela usa esse mesmo verbo para falar de quando o médico da instituição da CJM [Colônia Juliana Moreira] arrancou seus dentes. E o trabalho da Carol pontuou muito bem sobre isso: a instituição não fornecia a condição de higiene necessária e, para economizar naquele tratamento, acabavam arrancando os dentes das pacientes. E a gente escutou também o mesmo verbo quando ela estava falando da família para quem ela prestava serviços como empregada doméstica. Ela fala que foi “agarrada no distrito”, que a mulher falou que ela precisava ser muito domesticada e trabalhar de doméstica. Isso foi algo que nenhuma das três havia escutado sozinha, mas juntas percebemos que se trata de um verbo repetido nesses contextos, nessas situações semelhantes e diferentes. O que quero dizer é que Stella vai criando toda uma linguagem, todo um repertório para falar do que é o trauma desse corpo negro. E algo que aparece e salta muito, inclusive nessa parte do malezinho em que ela está falando sobre esse assunto da família, é que sempre que Stella está falando da família — e isso é a partir da “leitura” que eu tenho feito —, ela não está falando da família dela, da sanguinidade, dos seus parentes, até porque ela foi privada da maior parte dessas relações. Ela sempre joga o tema para a família ou para as famílias que ela trabalhou, e obviamente existe uma relação ali muito complicada… ou para a família do cientista, que é justamente essa instituição que está sempre na vigilância e na fiscalização do corpo dela. Eu acho que é justamente um movimento de evitar se referir à família dela mesmo, a fim de evitar o lugar de dor. Sabemos que a mãe dela ficou na Colônia também, convivendo junto com ela por pelo menos dez anos. E tem um trecho… você acha que a gente coloca aquele trecho do cativeiro?
Natasha: Acho que sim.
Sara: Acho que pode ser, para a gente ter um pouco mais de escuta e abrir a conversa com vocês, para vermos o que atravessou aí. Eu vou procurar aqui.
Natasha: Tá. Eu acho que inclusive nesse trecho do malezinho, a gente estava escutando ontem, tem essa coisa do “Com o que você trabalharia? Comer, beber e fumar”. E aí é a Carla que pergunta. Ela falou assim: “Isso não é trabalho”.
Sara: Acho que é a Nelly [Gutmacher].
Natasha: É. “Isso não é trabalho”; e ela fala: “É sim, porque eu fui forçada a aprender a comer, beber e fumar”. Então tem uma coisa da relação específica de que o trabalho é o trabalho forçado. E quando ela fala do tempo do cativeiro isso fica nítido, que é ali a reverberação continuada da memória da escravidão. A memória desse registro da escravidão está diretamente associada à memória do trabalho no Brasil. Então acho que é também uma chave de leitura para além da Stella e a gente projetando isso para outros campos, de ler o Brasil através da Stella. Isso é necessário também, não é? E eu acho que é a partir dessa fala também. O trabalho é forçado, e está em um lugar muito subjetivo, mas que condensa toda essa narrativa. Aí acho que também estendendo não só a leitura do Brasil a partir da Stella, como de outras artistas que foram colocadas nessa situação também. A gente tem artistas incríveis de diversas abordagens, diversos mecanismos de criação de linguagem, que estão ali formulando o mundo e que a gente se aproxima de uma complexidade a partir dessa produção. Acho que um jogo difícil do que se estabelece nessa crítica literária, principalmente em relação a Stella, é que é uma chave de leitura fácil, você falou da loucura, e de que está nesse registro fora da curva, do desvio… porque você não complexifica no fim das contas o que está sendo falado, você encerra e acabou, está ali. E tem complexidade ali, tem densidade, tem volume naquilo que está sendo falado, tanto que é uma voz que reverbera entre vozes e atravessa os tempos. É isso. Quer colocar? Vou colocar.
Falatório:
Quem são as pessoas que cê gosta aqui? Hum? Das criança. Aqui tem criança? … Tem? Aonde? No mundo inteiro. Mas aqui tem? Tem, no mundo inteiro. Mas eu nunca vi criança aqui. E dos velhos, você não gosta? Gosto de todo mundo. Gosto de tudo que é bom. E você é direita, honesta e trabalhadeira. É limpinha, gosta de limpeza… e eu não sei quem fez você enxergar cheirar pagar cantar pensar, ter cabelo ter pele ter carne ter ossos, ter altura ter largura, ter o… o interior ter o exterior ter o lado o outro a frente os fundo em cima embaixo, enxergar, como é que você consegue enxergar e ouvir vozes. [vozes e sons externos] Ô Nelly, eu já disse que eu sou escrava do tempo do cativeiro. Fui do tempo (da tua) da tua… bisavó da tua vó da tua… mãe… agora eu sou do teu tempo. Mas todo mundo é escravo do tempo, não é só você. Todos nós, somos. Do tempo do cativeiro? Do tempo. Dum tempo qualquer… que que é o tempo? O tempo é o gás o ar o espaço vazio. O tempo passa ou a gente que passa? A gente que passa.
Sara: Acho que vocês conseguiram flagrar, certo? Essa parte do cativeiro é fundamental para a gente pensar como o falatório de Stella consegue operar uma crítica do tempo, uma crítica da memória, uma linguagem das reverberações do trauma através das gerações. Penso que essa evocação do cativeiro não traz um tom de resignação ou de nostalgia desse espaço, mas da consciência muito clara de que essas forças coloniais ainda operam e que ainda é preciso enfrentá-las, mas a interlocutora dela não entendeu assim. Isso diz muito sobre tudo aquilo que a Grada Kilomba fala sobre as políticas da ignorância, que alguns têm o direito de não saber e alguns não têm esse direito, porque vivem o que vivem, porque passam o que passam, e alguns de nós simplesmente não têm esse direito. A gente trouxe mais trechos para ouvir, mas também eu acho que pode ser bom a gente abrir, conversar e ver as impressões de vocês também.
Natasha: É muita coisa.
Rogéria Barbosa: Eu acho que essa fala tem tudo a ver com o entendimento de vocês. Eu vou ler o que acabei de escrever, e depois vou ler para vocês o que aconteceu: “Falam da minha pele (acabei de fazer, tá, gente?) como carniça, fico louca. Jogam a minha escuta na chibata. Dói minha carne. Dói aquele ser que, ao me esbarrar, se limpa e cheira, sentindo o meu fedor. Fedor esse que quer encontrar. Tua pele me oprime. Teus cabelos são teus devaneios. Curo minhas cicatrizes na tela, na minha fala ao doutor. Ah, é de intolerância e preconceito que falo. Chega madame, chega senhor, chega madrinha, chega doutor. Enquanto me escutam, minhas lágrimas têm dor. Por um momento me silencio e digo, nunca um cão preto, nunca o teu servo, nunca minha mãe ou irmã vão deixar de trazer as marcas da intolerância da Minha pele tem alma, minha pele cheira à flor, trabalho e amor, pois, repito, respeito minha cor”.
Infelizmente não é um poema bonito, eu vou dizer por que eu não acho ele bonito na beleza que deveria ser, né, os poemas românticos. É, eu tava sexta-feira descendo a escada rolante de Bangu, aí uma branca, desculpe o termo, uma branca encostou em mim, aí na mesma hora se esquivou, começou a limpar, se limpar, se cheirar. Eu tava atrás dela, e eu fiquei assim impactada, fiquei impactada. É uma coisa que assim, eu e meu psicólogo, a gente estava conversando naquele dia na sexta-feira e aconteceu isso, passei a semana todinha péssima por causa disso. Hoje cheguei diante do psicólogo e não consegui conversar com ele. O que aconteceu? Porque eu tava tão arredia, até a situação dele… porque ele é negro também. Então a sua fala, a fala da Stella, a primeira vez que a Diana me mostrou as falas de Stella e eu comecei a ler, ouvir… eu me identifiquei muito com a Stella, sabe? Eu não vou estender, mas é isso que a gente passa no dia a dia, aquele ser branco, né, vamos dizer, não estou dizendo pela cor branca, mas as pessoas que têm a pele clara, tocar em você, limpar, limpar, limpar e cheirar, sabe. Aquilo ali ficou, é uma coisa que vai ficar marcada, ficou marcada, não tem como apagar. Eu posso imaginar Stella, nessa época dela, essa época, toda essa intolerância, toda essa negritude, todo esse vexame que é o preconceito, que é o racismo, então é coisa pra gente ouvir, não no caso de “ah, estamos na semana do dia 20 aí que aconteceu… está todo mundo ainda aí respirando”, mas não é isso aí não, gente, e nem é inferno astral que vai até novembro. Aconteceu, infelizmente isso é real. Sou a Rogéria Barbosa, meu livro foi lançado junto com a exposição de Stella do Patrocínio, tá ali à venda, pra comprar, tá? E a gente tá aí, tem uns trabalhos meus, tem uns livros, e a gente tá aí. Eu sou Ateliê Gaia.
Diana: A Rogéria Barbosa, artista, escritora, maravilhosa, militante da luta antimanicomial é uma das curadoras e inspiradoras dessa exposição, e nessa sala aqui ao lado, na galeria, tem um conjunto de obras de Rogéria e seu livro também que foi lançado junto com a exposição que, como ela disse, reforço, está à venda. Arrasa.
Só retomando a proposta, não precisa formular uma pergunta necessariamente, mas se vocês quiserem trazer dentro daquela proposta que a gente fez no início… o que ficou, o que vocês escutaram, o que está fazendo eco e lançar. Eu tinha uma questão para você, Sara, que eu acho que você colocou de inúmeras formas aqui, mas que no seu trabalho acadêmico você fala de uma narrativa de redoma, à prova de som, que tem a ver e se relaciona com a forma como as palavras e o falatório da Stella se difundiram a partir de uma mediação institucionalizada — acho que é a expressão que você usa. Você convida a recolocar o ouvido diante de Stella. E eu acho essa fala, que aparece inclusive no resumo, ela se alinha muito com o que a gente tenta fazer aqui, o que a gente deseja, o que nos mobiliza. É. Esse convite e esse encontro aqui também vão nessa direção. A gente está em uma instituição, mas a gente também tensiona esses movimentos. Eu fiquei com essa vontade de ouvir mais sobre. Será que a gente está quebrando a redoma?
Sara: Eu lembro que, na minha banca, a professora Fátima Lima falou assim: “Essa redoma está estilhaçada através dos trabalhos de vocês que têm sido feitos agora”. E uma das partes do trabalho foi tentar pesquisar um pouco mais sobre a voz, e o que mais me ajudou não foi a teoria literária, foram outros recortes, foram outras perspectivas, sobretudo pensando a música, pensando tambor, pensando ritmo. Acho que pensei nessa ideia da redoma porque foi a impressão que eu tive diante desse arquivo falseado, esse arquivo que foi construído a partir de um agenciamento muito específico que se quis em torno da trajetória de Stella, e que operou, de uma certa forma, um enclausuramento dessa voz. E quando eu estou falando “voz”, eu estou falando de voz mesmo. Essa voz ficou inacessível e desinteressante por muito tempo, mais tempo do que deveria. E que gera toda a “auratização” do livro, não é? O livro ficou super “auratizado”, sobretudo porque não se tinha esse arquivo original. O que notei também é que realmente houve essa construção de uma Stella que estava ali em uma redoma, para ser contemplada unicamente pelo olhar e não pelo ouvido. E, ao pensar na voz e pesquisar sobre isso, a gente vai compreendendo que toda uma tradição da metafísica, toda essa tradição ocidental tentou retirar o elemento sonoro e a voz dos regimes de conhecimento. O termo logos, um de seus significados era a fala, era o contar. E, a partir de Aristóteles, começa-se a privilegiar apenas o sentido de ligação da palavra logos. Desde então, começa a se privilegiar sempre o olhar como o sentido para o conhecimento e não o ouvido ou os demais sentidos. E o olhar tem esse lado, o nosso olhar é ativo, é altivo, a gente pode escolher para onde a gente olha, a gente fecha os olhos, a gente abre quando quer. E o ouvido é passivo, a gente está sempre em uma posição de passividade com o ouvido. E a autora que mais me ajudou a pensar esses elementos da voz, junto com a filosofia, foi a Adriana Cavarero, que é uma italiana. Até quando a gente está dormindo, a gente está escutando e é atravessado. Então, pesquisando sobre arquivos que precisamos escutar, temos que abandonar toda aquela postura ativa que a gente geralmente tem. Quando você fala de escuta ativa, na verdade acho que a gente tem que fazer uma escuta passiva. Inclusive, um exercício bom é fechar os olhos e focar nesse sentido da escuta, e a gente faz isso, né? Às vezes quando tentamos escutar alguma coisa, fechamos os olhos para escutar melhor, justamente porque se ouve melhor quando retiramos o olhar como sentido único. Acho que a ideia da redoma foi um pouco sobre isso, é preciso estilhaçá-la para realmente escutar a voz que dali emana, é preciso recolocar mesmo o ouvido. E, assim, a parede construída aqui no museu, com todos os autofalantes, me deixaram muito emocionada. E é legal porque exige um movimento muito corporal, você realmente precisa ir em direção, você precisa colocar seu ouvido lá.
Jessica: Eu estava lendo uma entrevista da Saidiya que fala um pouco desse paradoxo que vocês também trouxeram agora… e também referenciando Carol, quando você fala que Stella sai do manicômio para ser capturada pela instituição da literatura. Vou tentar traduzir: “No arquivo de escravidão, eu encontrei um paradoxo: o reconhecimento da humanidade e status dos escravos como sujeitos ampliava e intensificava a servidão e expropriação, em vez de conferir uma pequena medida de direitos e proteção”. Como lidar com estes paradoxos? Como pensar em formas de escuta que não sejam uma outra captura?
Natasha: Eu estou aqui pensando. Fiquei pensando numa fala da Diane Lima. Não sei se todos conhecem Diane Lima, curadora, pensadora. Ela está agora na curadoria da Bienal [de São Paulo]. E ela se debruçou também sobre o falatório da Stella durante um tempo. Diana [Kolker] pode falar melhor como é que foi essa relação, mas teve uma articulação com um grupo de pesquisa que eram de artistas e pensadores em torno do falatório da Stella, que durou um tempo específico. E aí Diane Lima faz esse seminário e coloca um paradoxo que a Stella é a mulher que vemos, mas não ouvimos, que acho que é um pouco do que Sara estava falando agora, da visão estar ali muito marcada pelo arquivo, pelo manuscrito. É a plataforma de legitimação da história, a oralidade é excluída disso. Tem uma impermanência — uma falsa impermanência — na oralidade, porque ela fica. Ela ressoa, que é isso do Luis [Ateliê Gaia], “o grito não morre, o grito não acaba”, e que escapa ao lugar do visível e que também é arquivo, também precisa ser visto como arquivo. E ela vai falar disso, dessa necessidade de escutar a Stella, essa pessoa que a gente não escuta mesmo, a gente só assiste. É uma coisa também de complexificar a questão porque a gente tem poucos registros da Stella de fato, a gente tem poucas fotografias. É uma imagem ainda muito fragmentada desse corpo, extremamente fragmentada. A Saidiya traz essa questão de olhar para o arquivo, essa necessidade de hackear esse sistema que atua pelas brechas. Então a gente tem, principalmente aqui no Brasil, uma falta muito grande em torno da historiografia negra, indígena, principalmente, que foi dinamitada ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e que, para construir essas memórias desse passado e olhar para isso, é uma necessidade de criação. A gente estava falando disso vindo para cá, daquele texto da Saidiya, que ela fala justamente isso. Como é que era?
Sara: Era sobre como a gente pode elaborar ou fabular sobre uma vida respeitando o que não sabemos.
Natasha: Isso. Como a gente pode fabular sobre uma vida respeitando o que a gente não sabe? E essa é uma das perguntas que a gente precisa disparar para a história da Stella também, o que a gente não sabe. Porque é muita coisa o que a gente não sabe, a gente parte do não saber. Então essa coisa dessa construção dessa memória, ela é um processo que está sujeito a falhas e depende de uma pulsão criativa também. E eu acho que indo para outro lugar da pergunta também, eu sinto que a gente está em um momento muito feliz no sentido de ver cada vez mais pesquisadoras artistas, racializadas, especialmente, corpos dissidentes que são seduzidos pelo falatório, são seduzidos a se envolver com aquilo e a investigar criticamente, que é o momento de abundância em relação a isso — de efervescência. Acho que tem uma efervescência aí que está se articulando cada vez mais. Quando eu estou falando isso, eu estou falando do trabalho da Jota [Mombaça], estou falando do trabalho da Leda [Martins], estou falando do trabalho de Sara…
Sara: … da Ariadne.
Natasha: Ariadne Catarine dos Santos é uma pesquisadora de São Paulo, da USP, que fez também uma pesquisa e se relacionou principalmente com a crítica literária em torno do livro, ela se debruçou em torno do livro. Existe essa tentativa de construção de algo que está na brecha.
Sara: E pensar que existem arquivos, e aí é algo que a Saidiya fala também, que são meras sentenças de morte. E com Stella não foi diferente, e sobretudo quando a gente para pra pensar que Stella foi enterrada como indigente, sendo que, sim, Stella tem parentes vivos e ela tinha parentes vivos no momento de sua morte. Mas a própria instituição conseguiu romper tanto esses laços familiares, esses laços sociais, e apagar a história dessas pessoas, que quando se chega ali na década de 1980 e a reforma psiquiátrica tenta reverter isso, quase tudo é irrecuperável. É isso. Todo esse aparato da instituição e a forma como ela mortifica esses indivíduos e mortificou os indivíduos por muito tempo tem a ver também com os seus laços familiares. Ela tem parentes vivos, eles não deixaram de visitar ela. E aí quando eu estou falando de arquivo, eu também estou falando dos prontuários médicos e do livro, porque o livro também ajudou a perpetuar essa ideia de que os parentes de Stella não procuraram por ela, o que é um completo equívoco. A família visitava, a família ia atrás dela. Mas em algum momento, a própria mãe de Stella morre dentro da instituição e a família não é comunicada, só descobrem em dia de visita — isso é fruto também da pesquisa da Carol. Então, é preciso pensar em como que a gente lida com a morte dos nossos e como a gente tenta operar uma narrativa que seja honrosa com essa morte também, e que promova um lugar de descanso de certa forma. Quando paro para pensar no contexto da morte de Stella, é muito duro, porque a gente se depara com uma história que é atravessada por uma série de violências, e inclusive nesse momento da morte, que deveria significar um momento de luto em comunidade. A isso a família dela não teve direito. E esses arquivos contribuem para isso também.
Lucas Alberto: Eu quero falar uma coisa, mas não é bem uma pergunta.
Sara: Boa tarde.
Lucas: Obrigado. Acho que foi uma possibilidade muito incrível eu ter contato com a pesquisa assim. A primeira vez que eu escutei a Stella foi por áudio numa aula que eu acho que a Jessica estava ministrando, e acho que o que sempre ficou para mim foi essa pergunta que ela fazia para essa espécie de entrevistadora que eu não sei quem era, Nelly ou a Carla. Não sei de qual áudio faz parte, mas era algo como: “Tenho que contar minha vida toda para você. Você está interessada em saber da minha vida, mas nem eu mesmo sei da minha vida”. Isso ficou como uma questão muito grande para mim. E depois ela fala: “Porque eu não sei como se forma boca com dentes, ouvido ouvindo vozes, cabeça pra pensar”. Essa hora que ela pergunta era interessante porque ela saía desse lugar de quem vai sofrer essa espécie de anamnese, porque em vários momentos me incomodava esse áudio da pergunta, de uma espécie de resposta um pouco retaliativa: “Não, você não é assim, não é bem assim, as coisas não são assim”, uma tentativa de apaziguar. E aí eu fiquei pensando em que medida isso também é uma questão na hora de transcrever ou na hora de pensar o que a Stella fala, se é sempre uma resposta e uma dúvida que alguém tenta ir lá e perguntar para ela. Fico pensando no que vocês falaram, uma entrevista. Eu nunca tinha pensado nisso, se essa dimensão da entrevista faz efeito, é uma questão para pesquisa. E em que medida essa entrevista se afasta ou se aproxima de uma noção de anamnese psiquiátrica. A entrevista é também um operador dentro do campo da saúde mental. Eu não sei nem se tem uma forma de se elaborar sobre isso, mas essa entrevista surge como uma questão problemática para pensar essa poética que está sendo falada.
Natasha: O que Sara falou também, a Stella usa estratégias discursivas ali que ela fala quando ela quer. Quando tentam forçar a barra, ela não cede, ela vai falando e ela entrega o que ela acha que tem que entregar. É uma coisa que é intuitiva, no sentido de que ela faz com muita naturalidade, você não sente ela bambeando, ela já dispara. E eu acho que são estratégias que ela se vale para escapar disso. É uma armadilha que é colocada ali e ela joga de volta. E eu tenho essa sensação de que, em vários momentos, a pessoa que está entrevistando ocupa uma posição simplista, falando qualquer coisa, e a voz da Stella cresce, ela toma corpo. Mas é uma coisa para sinalizar. A gente tendo acesso agora mais fácil ao falatório, vão vir pesquisas em torno disso, dessas interrupções. Não é só a voz dela isolada em uma caixa. Agora a gente tem acesso a outras movimentações do espaço, do tempo específico, o que era aquele ruído, quem estava gritando ali, em que momento, como é que ela está. Tem um áudio específico que dá para sentir que a Stella estava muito agitada, ela estava incomodada, dá uma angústia muito maior. Acho que é o quarto áudio, é o do malezinho. Ela fala meio energética no sentido que me deixou um pouco confusa em relação a como é que estava sendo conduzido aquilo na presencialidade. Mas agora a gente tem um outro tipo de relação sendo construída por esse material, que pelo livro a gente não conseguia ter acesso a isso. A coisa da entrevistadora, da interlocutora, era abraçada, ela saía de cena.
Sara: É um falatório que é no mínimo coautoral, tem sempre mais de uma pessoa envolvida. E eu fico lembrando de um trecho que é muito marcante, em que Stella fala do invisível, do polícia secreta, o sem cor. Só a partir desse trecho dá para a gente pensar em diversas coisas. Penso, por exemplo, em como que o nosso jornalismo, a nossa comunicação, fala das mortes de corpos negros por policiais. A gente sempre vê o rosto de quem está morrendo, a gente nunca vê o rosto de quem mata. Mas, se retirarmos a interlocução desse trecho, por exemplo, retiramos a possibilidade de que possamos ver todas as nuances desses diálogos. Uma coisa que acontece muito e que a gente reparou e tentou colocar nessa transcrição são os momentos de risadas. Algumas risadas são claramente do lugar da condescendência, de um deboche em relação ao que Stella está falando. E um desses momentos é quando ela está falando: “Eu estou colocando o mundo inteiro para dentro”. Nesse momento, a interlocutora direta, que eu acho que nesse momento é a Nelly, dá uma risada, e a Stella logo em seguida responde: “Estou botando VOCÊ para dentro também”. Ela já tem essas estratégias, ela está nessa devolutiva.
Lembrando dos processos de transcrição, é muito difícil quando se tem mais de uma voz e quando se tem mais de duas vozes, porque em alguns momentos elas são interrompidas por terceiros, outras pessoas, e a gente não sabe quem são. E a gente pergunta para Márcio Rolo, para Denise Correa e ninguém sabe dizer exatamente quem é. E como é que a gente dá um nome para essas pessoas? A gente coloca um número? Se fazemos isso, coisificamos elas novamente. Então, teve essa dificuldade, e é uma dificuldade que tem a ver com toda essa construção do arquivo. A Natasha estava falando sobre como há novos trabalhos surgindo. É exatamente o que o Nego Bispo fala, que é sempre início, meio e início; começo, meio e começo. Eu acho que agora a gente está podendo cada vez mais chegar a novos começos e ir para outros lugares. Eu sempre comento com as colegas que eu gostaria de ter feito um trabalho mais de construção sobre o falatório, de ficar fabulando mesmo e ficar entrando em mil divagações, mas eu acabei fazendo um trabalho mais de… e acho que a Carol também, de revisão de arquivo. A gente fala muito menos sobre a Stella do Patrocínio com dois L e muito mais sobre a “Stela” com um L, construída pelo agenciamento da loucura. Sinto que agora a gente pode estar falando com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de fidedignidade por causa do acesso público, dessa voz que está circulando agora. E acho que vão surgir muitas coisas boas.
Vanessa Alves: Tem uma parte que ela fala: “Mas eu já te dei tudo”; aí a interlocutora faz mais uma pergunta, e ela diz: “E não tenho nada para te dar”. Então, assim, como eu falei de manhã, eu não li a Stella antes, eu escutei tudo primeiro. E eu fui costurando palavras muito específicas. Aqui me refiro que foi construído um texto para a performance com as falas da Stella sem mudar as falas dela. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu li, eu falei: “Gente, estou perdida, porque não sei se ela estava ouvindo o que eu estava ouvindo”. Me refiro às interlocutoras que faziam as perguntas a Stella. Isso fica muito dentro de mim. Ela fala: “Eu já te dei tudo”. Aqui eu, Vanessa, penso que ela queria dizer: “Tem mais alguma coisa? Estou te devendo mais alguma coisa?”. Então a gente questiona muito sobre o sentimento daqueles momentos específicos de cada áudio, e também vou lendo sobre o falatório e tentando entender. Será que a gente entendeu quem ela foi? É nesse ponto. Eu tenho obrigação de falar de teoria, mas eu tenho obrigação de falar do irmão, das pessoas negras e mulheres que, como Stella, uma negra que foi invisibilizada. O que me parece muitas vezes dentro das conversas é a Stella: “Oi, eu sou viva, eu existo, eu não gosto de ficar aqui. Me faça outra pergunta. Conversa comigo de outra forma”. Eu fiquei com vontade de ter outra conversa, essa é a sensação que eu tinha dela. E, assim, não sei se eu entendi errado, mas acho que a Stella tinha noção que aquilo que ela estava fazendo ali se constituiria depois em outros desdobramentos e que aquela artista que estava ali é que teria… é que o aplauso é para mim, mas eu estou tentando dizer que o mundo foi errado, fez um erro. Nossa colonização, falta de respeito. O que a Rogéria acabou de falar aqui, é uma dor que só quem tem sabe o que é. E a Stella ficava dizendo o tempo inteiro: “Me escute, me veja”. Ser invisível não é fácil. E aí eu fico pensando: como é que a gente constrói novas narrativas e novas teorias para conseguir que isso seja visível? Porque para eu escutar, eu realmente preciso ouvir, parar para pensar. A gente está aqui debruçado sobre a vida de uma pessoa. Humanizar um universo caótico… é caótica a construção do sistema. A gente teve uma aula com a Sandra Benites. Ela diz: “O sistema são pessoas e essas pessoas não estão sendo humanas”. A minha sensação da fala da Stella é essa, falta de humanidade mesmo. Muito obrigada pelo espaço de fala.
Diana: Posso pegar uma carona? Porque daí eu vou falar um negócio que parte também de uma fala tua, Natasha, que ficou reverberando. Você fala sobre ler o Brasil a partir de Stella. E eu fiquei com vontade de falar agora junto dessa fala de Vanessa Alves. Ano passado lançamos o programa Stella do Patrocínio: A história que fala, com a curadoria de Diane Lima, que contou com um grupo de escutas e estudos conduzido por Denise Ferreira da Silva, Diane Lima e dez artistas pensadores. O programa foi mobilizado por um sentido de responsabilidade do museu com relação à memória de Stella do Patrocínio. Mas como é que essa instituição se reposiciona diante de Stella e do que foi feito com ela? É possível alguma reparação? Qual é a responsabilidade do museu e das pessoas que atuam aqui? Qual é a responsabilidade das pessoas que estão na academia pesquisando o falatório de Stella e sua vida, dos artistas que estão produzindo, de alguma maneira impactados pelo que Stella falou, enunciou, produziu, evocou. E também aqui com as questões que o Lucas trouxe, eu fico pensando que chega de ficar tentando tirar de Stella mais e mais. Eu acho que a gente precisa fazer essa escuta passiva que Sara coloca e prestar atenção nas perguntas que Stella está lançando para a gente. Como que a gente se reposiciona a partir disso? Eu estou trazendo um pouco do que vocês ecoaram em mim e devolvendo…
Natasha: Mas eu fiquei pensando… a Denise Ferreira fala isso, a reparação é impossível… a dívida, impagável. Fico pensando nesse lugar da criação e da compreensão de que o tempo na verdade são os tempos que estão se cruzando, não tem um comprometimento com a linearidade que é para onde a gente é jogado. Eu acho que tem um zig-zag, tem uma capoeira possível no tempo que permite com que a gente, a partir dessa relação com uma voz que ecoa em outros espaços simultaneamente… essa ideia de simultâneo tem me pegado muito, de não estar isolado, de que tem coisas acontecendo ao mesmo tempo… e isso que a Stella fala, tempo da sua avó, da bisavó, mas agora eu estou no teu tempo. Isso é muito fundamental. Ela está falando da origem da vida, e ao mesmo tempo ela fala que começou a existir quando o cara colocou ela no chão e a estuprou. Então tem várias nuances ali para essa relação com a origem e com a vida, com essa pulsão de vida e morte que estão ali atreladas, mas que é muito forte isso de que a gente está convivendo com outras temporalidades simultaneamente. Eu não acho também que é uma solução simples, senão a gente fica em uma emulação ali que é difícil você criar materialidade a partir disso. Mas fico pensando muito nesse comprometimento, ainda por uma materialidade ser uma coisa um pouco mais próxima da instituição, o comprometimento continuado com essa revisão histórica, com essa atualização da memória, com essa busca em preencher lacunas em coletivo, porque é isso que a gente está vendo também. Inclusive, entendendo que a gente tem essa tendência a eleger uma pessoa, é a Stella e é o Bispo do Rosario, que são dois grandes nomes, duas grandes figuras na história do país, mas que em paralelo a eles tem outras pessoas em produção, em vida, contemporâneas… a Rogéria, Patrícia, tem uma galera. E isso falando especificamente da instituição Museu Bispo do Rosario. Mas também tem um resquício de uma narrativa heroica que a gente não consegue se desvencilhar, da grande figura que não é para deslegitimar ou diminuir o que é a importância do Bispo e o que é a importância da Stella, mas quem são as outras pessoas que estão aqui agora produzindo e fazendo. Isso é uma coisa que a Conceição Evaristo fala muito: “Eu estou com 70 anos, comecei a ser conhecida com 70 anos. Olha essa galera produzindo aqui agora”. E aí a gente sai do campo, da chave da violência, e quando a gente fala da raça a gente fala de violência, quando a gente fala de Brasil a gente fala de raça e de violência, e coloca no espectro da potência, da experimentalidade dessas vidas que tem uma energia criativa ali que está operando e que estão produzindo saber, produzindo conhecimento. O que a Stella fez? Produziu conhecimento. O que o Bispo fez? Produziu conhecimento. Materializou conhecimento, deu plasticidade para aquilo. A Stella deu plasticidade para essa fala. A voz é material, não é uma coisa que fica ali pairando, tem peso, é o gás, tem uma dimensão daquilo. Então é entender que essas histórias não estão competindo com outras, mas estão convergindo com outras histórias e com outras narrativas que estão aqui no agora. Então acho que é fazer exercício de olhar também de corpo todo para quem está fazendo agora, papel inclusive das instituições. É nosso papel enquanto indivíduo também, mas das instituições também de estarem com esse olhar mais atento e tentar acabar com essa narrativa do herói. Narrativa do herói também pode. Acho que é isso, são muitas figuras que estão ali com diferentes linguagens, diferentes propostas, diferentes estéticas, conceituações, temáticas.
Sara: Só para complementar um pouco, eu acho que as coisas que a Stella elabora se conectam com o que a Vanessa estava falando. Ela lança perguntas e muitas vezes está falando mais sobre nós, sobres as instituições, do que sobre ela mesma. Ela lança para a gente também essa perspectiva de um tempo espiralar, um ciclo de situações e de violências que se repetem, mas a resistência também se repete, as estratégias de fuga também se repetem. Eu acho que, quando a gente escuta Stella, a gente consegue aprender sobre estratégias de fuga, dessa “fugitividade”, ela é uma grande mestra dessa escapatória. E eu fico pensando nessa ideia de “fugitividade” mesmo. Não é em lugar de desistência, mas de escapar da própria lógica entre senhores e escravizados, então ela está sempre conseguindo escapar e fugir disso, e eu acho que nós, pessoas racializadas, conseguimos aprender muito se a escutarmos, e as instituições conseguem aprender muito se a escutarem. Vamos escutar, vamos continuar escutando. Começo, meio e começo. Acho que Stella é isso.
Carol: Depois das questões levantadas a respeito de como receber o falatório de Stella, eu também gostaria de citar Diane Lima no evento online “Stella do Patrocínio, a história que fala”, organizado pelo Museu Bispo do Rosario, pois ela disse que a literatura atentou contra a única arma que Stella teve durante essas décadas todas de internação. Essa arma contra a qual a literatura se voltou foi justamente o falatório. A literatura agiu exatamente como o hospício agiu contra todos os sujeitos que conseguiu aprisionar em um diagnóstico.
A maneira como Stella foi majoritariamente nomeada e narrada diz muito pouco sobre ela, mas diz muito sobre a instituição literária, sua historiografia, seus símbolos de representação, suas metodologias de análise. Sara mencionou que meu trabalho se voltou a perceber os falsos arquivos, e é verdade. Esta foi uma longa etapa de pesquisa. Concluí, na ocasião, que esses falsos arquivos não contam a vida de Stella, mas as elaborações, funções e lógicas do hospício. Neles, é possível perceber de que maneira a vigília e a tentativa de domesticação, controle, normalização operacionalizavam. As perguntas elaboradas para serem aplicadas aos pacientes como um meio de análise diagnóstica giravam em torno de noções deturpadas de higiene — visto que o hospício sequer oferecia essas condições —, bom comportamento, docilização, produtividade e outros. Por isso eu fui atrás do levantamento biográfico dela e reuni tudo o que pude do falatório. Eu quis que a narrativa de Stella se sobrepusesse àquela do hospício, eu gostaria de entender, com Stella, o que foi aquela instituição e o que mais ela apontava. Muita coisa apareceu a partir daí.
Foi assim que eu percebi que, por não realizar um exercício de escuta e nem mesmo de leitura de Stella, durante alguns anos a literatura repetiu os arquivos do hospital para apresentá-la, reproduzindo aquele diagnóstico dado pelo hospício e novamente silenciando o fato de que ela afirmou que foi forçada a ser doente mental depois de sua captura pela polícia, na rua Voluntários da Pátria, quando ela pretendia pegar um ônibus e não conseguiu embarcar. Tudo isso por ser uma mulher negra. Então a literatura recontou a história não dela, mas da produção realizada pelo manicômio, ao mesmo tempo em que fortaleceu as narrativas hospitalares. Ao tornar Stella do Patrocínio um objeto de estudo e entender o falatório como uma confirmação de uma loucura — que aqui chamamos higiene social, racismo, colonialismo e outros —, o que fizemos, até agora, foi criar uma personagem com quem Stella do Patrocínio pouco se parece. Datas de nascimento e morte são as mesmas, bem como a passagem por uma instituição extremamente nociva, violenta e que se ampara em técnicas e saberes de apagamento, silenciamento e subalternização em massa de sujeitos que tiveram nome, histórias, intelectualidades, vida social, laços familiares e complexidades as quais jamais conseguiríamos capturar.
Falo tudo isso do lugar de minha pesquisa. Os hospícios são um crime de Estado — crime este que nem sequer entrou em vias de reparação. Não sabemos dimensionar, até hoje, a quantidade exorbitante de sujeitos aprisionados nesses lugares, mas sabemos que a primeira medida de controle, neles, é a afirmação de que aqueles que possuem diagnóstico clínico estão inaptos a falar. A máscara, de Grada Kilomba, tem, nesse sentido, uma contemporaneidade assustadora.
Esta foi a principal arma de Stella, o falatório é o seu mecanismo de fuga. Mas nem sempre Stella conseguiu escapar, mesmo sendo fugitiva e encontrando essas rotas de escape. Como a fuga e a captura estão operando nessas instituições que reivindicam Stella e a chamam? Como o falatório se insere nesses tão complexos contextos?
Não há reparação possível, mas há o compromisso de não perpetuarmos aquelas narrativas e compreensões que já percebemos serem infundadas, e aqui gostaria de realçar a ideia do erro de pesquisa, do erro de pensamento, da desvirtuação, da violação de éticas de pesquisa e de vícios de interpretação. Hoje nós sabemos algumas das tentativas de reencenações de captura de Stella do Patrocínio, e acredito que estamos em um momento de, como ela fez, procurar rotas alternativas. Essa fuga, penso que pode ser encontrada nas nossas elaborações a respeito do falatório.
Os áudios, que são uma parte do registro do falatório, não dão conta de representar o todo que foi registrado do falatório. Os contrários, os opostos, as lacunas estão comunicando. Não há integralidade. Então, o que se faz desse passado que não deu a ela um futuro? Como esse passado pode ser contado um pouco mais honesto? O que ele nos tem a dizer? Stella tinha quinhentos milhões e quinhentos mil anos, a idade dos moradores do núcleo Teixeira Brandão, Jacarepaguá. Salve Stella, e dai licença pra gente aprender com o falatório, e assumir compromissos que não mais tentem retirar a dignidade de Stella, dos moradores do Teixeira Brandão, das milhares de pessoas que passaram por esses lugares criminosos de tortura.
Aimé Césaire deu a letra todinha: “Aqueles que afirmam que, no outro, há escassez de humanidade, esses sim são pouco humanos”. Que as chaves virem, de uma vez por todas.
Diana: Que as chaves virem! Manicômio nunca mais!
Infelizmente teremos que pausar nossa conversa por aqui, mas com as palavras que ouvimos reverberando no corpo, convido vocês para esticar um pouquinho mais e bater um papo solto no Bistrô do Bispo. O pessoal da oficina de música do Polo Experimental, que é o nosso centro de convivência, vai se apresentar lá. Mais uma vez agradeço às nossas convidadas, a todo mundo que veio aqui, e convido a voltar outras vezes. Estamos sempre de braços livres e abertos para receber. Obrigada, gente.
***
Anna Carolina Vicentini Zacharias se ocupa com ofícios de artesã, é educadora e pesquisadora de doutorado em Teoria e História Literária no Instituto de Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Hoje, desenvolve pesquisa analisando a recepção de artistas psiquiatrizados no mercado de arte brasileira, sobretudo identificando os apagamentos de memória aos quais eles foram submetidos. É mestra pelo mesmo Instituto, autora da dissertação “Stella do Patrocínio: da internação involuntária à poesia brasileira” (2020). Possui interesse nas seguintes áreas: literatura brasileira, curadoria em museus, arte e saúde mental, luta antimanicomial, decolonialidade.
Diana Kolker Carneiro da Cunha (Rio de Janeiro, 1983) é educadora de museu e curadora. Graduada em História (PUCRS), especialista em Pedagogia da Arte (UFRGS) e mestra em Estudos Contemporâneos das Artes (UFF). Desde 2017, coordena o projeto pedagógico e artístico do Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea, onde também integra a curadoria das exposições.
Natasha Felix (Santos, 1996) é poeta e performer. Dentre as publicações, destaca-se o seu livro de estreia Use o alicate agora (Edições Macondo, 2018), e a participação em antologias como Os nossos poemas conjuram e gritam, pela Quelônio (2019) e As 29 poetas hoje, Companhia das Letras (2021). Em suas performances, investiga as interlocuções entre corpo negro, palavra falada e interseções com outras linguagens, como a dança, a música e o audiovisual. Atualmente, é editora artística no Museu do Amanhã. Foi assistente de curadoria do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Sara Ramos é pesquisadora, editora, tradutora e poeta tocantinense. Mestra em literatura comparada pela UNILA, tem muito respeito pelas palavras, sejam escritas, faladas ou corporificadas, por isso as persegue. Atualmente vive no Rio de Janeiro e é autora daplaquete Pequeno manual da fúria (2022).
¹ Apesar da escrita comum de “Rosário” com acento, o museu adotou “Rosario” sem acento, de acordo com o certificado de nascimento do artista. Ao longo deste diálogo nós também adotamos esta grafia.
² Com a morte de Arthur Bispo do Rosario em 1989, a Colônia Juliano Moreira se vê diante do desafio de decidir o destino das obras produzidas por ele durante os 49 anos em que esteve internado intermitentemente. O conjunto da sua criação foi abrigado pelo então Museu Nise da Silveira, localizado na sede da Colônia Juliano Moreira. Diante da nova missão, em 2000, 11 anos após o falecimento de Bispo, a instituição altera o seu nome para Museu Bispo do Rosario, homenageando o principal artista de seu acervo. Disponível em: https://museubispodorosario.com/museu/. Acesso em: ago. 2023.
³ Ateliê Gaia é um coletivo de artistas usuários de saúde mental e ex-internos do antigo Colônia Juliano Moreira vinculado ao mBrac. Para mais informações: https://museubispodorosario.com/atelier-gaia-2/. Acesso em: ago. 2023.
⁴ Zacharias, Anna Carolina Vicentini. Stella Patrocínio, ou o retorno de quem sempre esteve aqui. Revista Cult, 22 de setembro 2020. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/stella-do-patrocinio-retorno-sempre-esteve-aqui/ Acesso em: ago. 2023.
⁵ Ramos, Sara Martins. Stella do Patrocínio: entre a letra e a negra garganta de carne. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada. Universidade Federal de Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2022. Disponível em: https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6465;jsessionid=7500013A50BF0043E118C067ACA0384E Acesso em: ago. 2023.