
Escola sem paredes: Artes, ciências, espiritualidades em histórias vivas
Anna Dantes, Fabio Scarano, Guilherme Vergara, Iazana Guizzo, Lígia Veiga, Mãe Sara, Marcia Brandão, Sandra Benites
Enquanto as artes, as ciências e as espiritualidades estiverem compartimentalizadas e emparedadas em muros de exclusão social, trincheiras de preconceitos de gênero e racialidade e, ainda, contaminadas pela pandemia de extermínios da diversidade de crenças, saberes e sabores da vida, permaneceremos sob domínio da cultura capitalista da violência e do ecocídio local e planetário. Na contramão desses muros de violência está a Bandeira da Paz, ao redor da qual um grupo se reuniu num domingo, em dezembro de 2024.
A Bandeira da Paz, símbolo associado ao Pacto da Paz (1935), também é conhecida como Bandeira da Mãe do Mundo. Essa bandeira foi criada e promulgada por um casal russo — Nicholas Roerich (1874‒1947), artista, filósofo, escritor, arqueólogo e advogado, e Helena Roerich (1879‒1955), espírito militante, escritora e ativista do movimento de mulheres — como parte de uma visão planetária de uma Ética Viva, do ativismo pela paz e da unidade pan-humana espiritual. Abraçando a conectividade e a pluralidade das artes, ciências e espiritualidades, a Bandeira se lança no “chão-corpo-coração” desse encontro como chamada para um labor têxtil de escutas de diferentes vozes e um pensar sobre educação a partir de práticas de existência, histórias, ritos, momentos encantados e difíceis.
Na conversa, foram apresentadas diferentes formas de ensinar que apostam na experiência, na liberdade e na vida: as escolas sem paredes. Mesmo que pelas frestas de um mundo hostil, essas escolas sem paredes insistem em provocar corpos a desabrochar.
– Guilherme Vergara
A roda aconteceu no dia 8 de dezembro de 2024 na Casa de Mystérios e Novidades, e foi transcrita, editada e revisada com os participantes no primeiro semestre de 2025. A fotografia é de Jessica Gogan.
***
Lígia Veiga[diretora artística da Companhia de Mystérios e Novidades tocando a concha]
Pessoal, a gente vai iniciar a nossa roda de conversa.
Essa roda é muito importante. É uma alegria imensa ter vocês todos aqui, ter essas rodas de conversa e estar com pessoas aqui do coração desta casa. Eu queria começar com uma pequena coisa que eu acabei de receber, um presente muito especial: o Rubáiyát, que são poemas do Omar Khayyám. Eu estava, assim, muito chateada que estava gripada na cama esses dias, e minha amiga me deu isso aqui e eu abri nessa página. Olhem como tem a ver com a gente aqui hoje:
Senta-te e bebe, que serás mais feliz que Mahmud.
Escuta as melodias que exalam as harpas dos amantes: são os verdadeiros salmos de David.
Não mergulhes no passado, não sondes o futuro.
Que o teu pensamento não vá além do momento presente: eis o segredo da paz!1
Tem tudo a ver com a gente agora, né?
[Pessoas batendo palmas]
Eu peço desculpas a vocês, mas, como eu tô muito gripada, eu vou ficar de fora, ouvindo vocês. E a condução agora vai ser por Iazana [Guizzo] e [Guilherme] Vergara.
Guilherme Vergara
Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer à Lígia, à Marília e à casa que acolhe esse movimento tão imantado. E com esse ímã estamos reunindo pessoas que são também imantadas para essa roda de conversa: Iazana Guizzo, Fabio Scarano, Anna Dantes, Sandra Benites, Mãe Sara e Marcia Brandão.
O que nos reúne hoje envolve também essa Bandeira da Paz aqui no chão como outro ímã para orientar nossa conversa. Esse símbolo neolítico, esse símbolo ancestral que, por trás dele, tem também uma relação que talvez seja parte de um destino, um devir, uma missão desse planeta.

É a unidade plural das artes, ciências e espiritualidades que pode também ser chamada de uma escola sem paredes. Que escola é essa sem paredes que a gente está lidando? São oito pessoas muito especiais que vão rodar essa fala hoje, cada uma trazendo um pedaço de vida onde essa brecha se abre, uma centelha para pensar essa possibilidade de síntese da pluralidade das artes, ciências e espiritualidades.
No ano passado, realizamos uma conversa aqui e tivemos uma referência raríssima, a apresentação da história da Helena Roerich, feminista, ativista e espiritualista que era parceira do artista russo Nicholas Roerich. Juntos, eles mobilizaram diferentes lideranças mundiais pelo Pacto e Bandeira da Paz nos anos 1930. Nesse encontro eu li um pequeno texto da Helena Roerich. Pouca gente a conhece, mas é tão importante trazer para os dias de hoje essa Ética Viva que se irradia por trás do símbolo da Bandeira da Paz, já que se fala tanto do futuro ancestral. Nós precisamos conhecer vários ancestrais e vários futuros.
E, para a nossa escola sem paredes hoje, eu só vou ler esse trechozinho aqui — que espero que inspire a rodada de conversas — do livro Coração (1932), da série Ética Viva Agni Yoga, e passo a palavra para Iazana.
1. Ver com os olhos do coração. Escutar os ruídos do mundo com os ouvidos do coração. Perscrutar o futuro com a compreensão do coração. Recordar as acumulações do passado através do coração. Assim deve-se percorrer impetuosamente o caminho da ascensão. A criatividade abrange o potencial ardente e se satura com o sagrado fogo do coração. Portanto, no caminho para a Hierarquia, no caminho para o Grande Serviço, no caminho para a Comunhão, com C maiúsculo, a síntese é o único caminho luminoso do coração. Como podem os raios irradiar se a chama não está acesa no coração? É precisamente a propriedade do ímã que é inerente ao coração2.

Eu sempre faço uma referência à ação da Lígia Veiga como coração imantado, como tantos corações aqui presentes. As pessoas que têm coração aceso são vibráteis e são pessoas de atração imantada.
A criatividade superior está impregnada desta grande lei da atração do coração. Portanto, cada coroamento, cada união, cada unificação cósmica realiza-se por meio da chama do coração. De que modo podemos assentar a base dos grandes degraus? Na verdade, apenas pelo coração. Assim, os arcos da consciência são fundidos pela chama do coração3.
Então, espero que essa escola sem paredes seja um deslocamento desses séculos dominados pelo intelecto para uma reconfiguração dos sentidos das artes-ciências-espiritualidades por uma educação pelo coração imantado.
Iazana Guizzo
Também agradeço pelas pessoas que estão aqui nesse dia de domingo, futebol, verão, praia e calor. A gente está aqui para encontrar uns aos outros. E eu me lembro que, no ano passado, falávamos de como era bom conviver. As pessoas reunidas aqui já se conhecem e vêm conversando nos últimos tempos. Este não é aquele encontro em que você fala rápido e vai embora. Todos nós temos carinho pelas pessoas que irão falar, elas estão fazendo trabalhos importantes, um cooperando com o outro, ouvindo um ao outro, tentando manter a aliança, aberto ao afeto provocado, praticando convivência para além de um encontro rápido numa mesa de palestra. Então, esta é uma oportunidade de a gente ir tecendo e firmando os laços.


Então, eu queria dizer isso, que não começa nem termina nesta roda, e a ideia é que se amplie e que se troque e se fortaleça essa rede de corações, como diz Vergara. A ideia é que cada um fale sobre práticas que já estão acontecendo e o que podemos aprender com a experiência do outro. Propomos uma fala muito rápida, de oito minutos. Eu fiquei de guardiã do tempo. Então, eu vou fazer essa tarefa tocando um maracá, abrindo, como eu aprendi com os povos originários, e a pessoa fala. Quando der seis minutos, eu vou só fazer isso [tocando suavemente no maracá], para a pessoa saber que faltam dois minutos e, quando fechar os oito minutos combinados, eu vou tocar duas vezes, para afirmar que os oito minutos acabaram.
Lígia
Acho bom falar também que esses oito minutos têm a ver com o infinito. Porque acho que as conversas vão se entrelaçar. A gente está em roda, não faremos uma fala, faremos um bordado cósmico aqui entre nós.
Iazana
Há bastante gente para falar. Os corpos têm limite, é mais um norte do que uma coisa dura. Para a gente lembrar do coletivo, lembrar do tempo, porque é infinito o que a gente tem para trocar. Então, acho que é mais nesse sentido. Não é uma dureza, mas uma orientação.
Guilherme
A gente poderia fazer essa rodada por ordem alfabética de nome? Ou de sobrenome?
[riso geral]
Iazana
Outra vez a gente fez uma coisa bem louca. Tinha sido um sorteio.
Anna Dantes
Mas talvez agora seja possível convidar alguém para começar. Mãe Sara, gostaria de iniciar a roda?
Mãe Sara
Gente, mas vai demorar dois minutos. Porque a maioria daqui conhece a minha história. Para mim, é mais fácil perguntas. Eu tenho essa dificuldade de falar, de fazer palestra mesmo.
Guilherme
Tenho uma pergunta: você tem uma percepção ou possibilidade dessa percepção de onde se dá essa confluência com arte, ciência e espiritualidade e como essa pode se desdobrar?
Mãe Sara
Está tudo junto e misturado. Não tem como!
Bom, o pessoal me chamou de Mãe Sara. Eu virei mãe de todo mundo. Eu sou dirigente de uma casa de umbanda aqui na Sacadura Cabral, coladinho na Pedra do Sal.

Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Mas, como você perguntou sobre arte, ciência e espiritualidade, vou dizer que, para mim, está tudo junto e misturado. Até porque eu não falo de religião. Eu falo sempre de espiritualidade, que são coisas bem diferentes. Eu tenho dificuldade de falar, inclusive, porque cria muita polêmica. Nossa casa é muito aberta. Estamos ali para estudar, para entender. Eu me coloco mais como “experienciadora” do que dirigente, porque eu estou experienciando as coisas que acontecem, os movimentos que acontecem dentro do interior de nós. Muita coisa eu também não sei o que é e eu fico falando: “O que está acontecendo aqui?”. Vamos aprender juntos, vamos procurar, vamos saber juntos.
Então, é mais uma escola. Eu digo que é mais uma escola iniciática para todos aprenderem juntos. E vem trazendo a espiritualidade e vem trazendo a ciência junto à arte. Eu acabei de virar produtora cultural, assim mesmo, como uma necessidade espiritual. Foi puxando as coisas. A partir do que eu ia conhecendo e evidenciando, eu ia tendo essa necessidade de mostrar quem somos, porque somos.
Eu sou virginiana, sou cética. Eu vivo um paradoxo muito doido, porque eu não acredito em religião, não acredito de verdade. Eu falo que religião é um encontro social para pessoas da mesma cultura, do mesmo idioma, falar de Deus. É ali que a gente vai chegar na espiritualidade. Foi a partir desse entendimento que comecei a estudar, pesquisar, buscar. Nada me explicava o que eram essas incorporações dos espíritos desencarnados, nada explicava aqueles fenômenos, até que eu fui entender na física quântica, na metafísica, que aí, caramba, tem fundamento. Mas nem todo mundo tem acesso a essas informações. Mas as pessoas que vão ao terreiro precisam ser atendidas, ser orientadas. Então, é por aqui que nós vamos, é pela religião que nós vamos. Não tem como a gente chegar pela fala da ciência, de física quântica e metafísica. Então, vamos chegar por aqui, por esse caminho da espiritualidade, que puxa a arte, que puxa ciência. Como é que o povo no dia a dia acessa isso? Então, a gente é uma agricultura livre de histórias. E vamos contando, porque está tudo escondido.
Ninguém conta a história da nossa ancestralidade. A gente não sabe e ficamos, os negros, ficamos um pouco, não, ficamos muito, sem identidade. Onde a gente busca as nossas referências? E, a partir daí, vem a arte mostrar de uma outra forma que não seja acadêmica. Agora, estou muito feliz, porque a ciência e a academia querem mostrar isso, querem falar disso. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Agora é o momento. Então, o que eu puder, com toda a dificuldade que eu tenho, o que eu puder contribuir para isso, porque, para mim, foi muito difícil eu entender, encontrar minha identidade. Foi muito difícil. E é sofrimento, gente. É sofrimento. A gente não sabe muito bem de onde vem, o que significam as coisas que se apresentam para a gente, tanto a escola quanto as religiões. A gente vê que não combina muito. Caramba, não encaixa.

Mas aí é isso. Eu fico muito feliz porque não é fácil, a gente não tem identidade e não sabe da nossa história até para se colocar no mundo atual. Precisamos saber de onde nós viemos. De onde que eu vim? Então, de verdade, eu estou muito feliz com esse movimento de a gente encontrar a nossa ancestralidade mesmo, a nossa história. Olha, começar por mim foi ótimo!
Guilherme
Muito obrigado, Mãe Sara. Hoje temos tanta fragmentação. A gente se divide muito mais que se une por não saber de onde viemos. Aí eu proponho que o Fabio Scarano puxe e continue este bordado cósmico de falas, como Lígia mencionou, porque Mãe Sara já puxou como um centro de estudos espiritualistas e espirituais como tudo puxa para a física quântica. Aí, temos aqui o Fabio Scarano para continuar essa viagem intuitiva. Muito obrigado.
Fabio Scarano
É uma honra, um prazer sempre estar aqui. Uma delícia estar nessa casa. Eu sou Fabio Scarano. A minha formação é em botânica, principalmente. Eu trabalhei com as plantas muito tempo da minha vida e numa ótica científica. O meu caso aqui tem muita coisa que se parece com a sua narrativa. Eu sou de uma família italiana. A minha bisavó nasceu no dia de São Francisco de Assis. Meu avô se chamava Francisco e eu também nasci no dia de São Francisco de Assis. Então, isso foi muito forte na minha formação. Essa formação religiosa, católica, com o olhar franciscano. Mas eu, jovem inquieto, queria ter certeza das coisas e fui pelo caminho da ciência. Mal sabia eu que o ofício do cientista é lidar com a incerteza.

Além da base religiosa e da formação científica, eu tinha uma ligação grande com a arte, especialmente o cinema, que sempre me fascinou. Talvez pelos rigores do estabelecimento científico, por muito tempo eu achava que existiam três Fabios que não deveriam se misturar: o Fabio cientista, o Fábio que tinha uma espiritualidade e o Fábio que gostava de arte. E eu não misturava, ou tentava não misturar esses Fabios, que eu julgava ser importante para a minha prática na ciência.
Quando eu trabalhava com as plantas, uma das espécies tinha uma forma de vida pouco usual. Ela funcionava mais à noite do que de dia. Logo, eu passava muito tempo à noite com essas plantas. Estar à noite em meio à vegetação, muitas vezes só, faz a gente pensar, sentir e perceber coisas pouco evidentes no nosso cotidiano urbano. Daí eu percebi que a ciência… o Blaise Pascal falava isso… a ciência consegue explicar, no máximo, 10% das coisas. Os outros 90% estão no campo do mistério, do sagrado, e a ciência não consegue explicar. Por volta dessa época que eu vim a encontrar a Anna Dantes aqui, que é uma pessoa importante para fazer com que esses três Fabios se encontrassem.
É um fenômeno relativamente recente, deve ter uns dez, quinze anos para cá. Eu sempre agradeço à Anna por essa chance que eu tive. Isso também veio muito da possibilidade de trabalhar com diferentes povos indígenas e dialogar com diferentes colegas do mundo da arte. E é um processo que, hoje, me traz para o Museu do Amanhã. Estou atuando lá há dois anos, agora, como curador. O tema do futuro me interessa por conta do meu trabalho com as plantas também. Uma coisa que eu notava nas plantas, como elas não se movem, é que elas são atentas. O fato de não se deslocar dá uma capacidade de atenção [ampliada] e essa atenção também tem muito a ver com a memória. Embora a atenção esteja relacionada com o presente, ela ativa a nossa memória que está mais conectada com o passado. Tudo que é vivo tem atenção e tem memória. E possui também uma terceira capacidade, que é a antecipação. A antecipação é como a atenção e a memória interagem para criar imagens sobre o futuro. Já que o futuro não existe, ele existe só na imaginação, a atenção e a memória são fundamentais para a gente antecipar bem. No ser humano, hoje, a impressão que eu tenho é que a gente tem baixa atenção, muito pouca memória do mundo e, portanto, antecipamos muito mal. A ciência andou muito nesse sentido. Eu trabalhei, no passado, com mudança climática e com projeção de cenários futuros, e posso dizer que, hoje, as projeções científicas estão cada vez melhores. Mas não adianta muita coisa. Estamos falando de mudança climática há 40 anos e a sociedade planetária quebra o recorde de emissão de gases estufa todo ano. Então, tem um desacoplamento entre a gente entender e agir que, para mim, tem a ver com a falta de sentir.
É como se a gente visse esses fenômenos todos pela televisão, numa tela. E achamos que não vai acontecer, ao menos não com a gente, até que acontece. Creio que a ciência precisa da arte e da espiritualidade, bem como a arte e a espiritualidade precisam da ciência. Eu creio que o diálogo entre essas diferentes formas de interpretação da realidade irá melhorar a nossa capacidade antecipatória. Porque tanto a arte como a espiritualidade, seja ela religiosa ou não, nos permite sentir, talvez mais imediatamente do que a ciência nos faz. Uma das belezas da ciência é que ela é livre de dogma. À luz do método científico, do teste, tudo pode acontecer. Porém, o ser humano não é livre de dogma. Então, a suposta objetividade e imparcialidade que a ciência teria em decorrência do método, nós humanos não temos. Então, ela encontra um claro limite. Ela é só uma forma de interpretação da realidade. É uma forma de interpretação da realidade que, graças à maneira como foi e muitas vezes ainda é usada, se confunde com o progresso. Então, ela eventualmente apaga memórias.

Então, nós somos uma sociedade, a sociedade moderna, que não tem atenção por conta dessa velocidade tanto da vida como das comunicações que nos invadem. Nossa atenção é baixa e nós não temos a memória do mundo. Por conta de um monte de memórias que foram apagadas, humanas, não humanas… Eu fico me lembrando da minha relação com a minha avó. Minha avó tratava a gente com plantas. Eu me lembro de umas três, quatro plantas, mas não me lembro de todas. Meu pai, também, só se lembra de uma ou outra. Não passou muito tempo de lá pra cá, sabe? Então, dentro de uma faixa estreita de anos, a gente perde a memória. O que dirá tantas memórias de tantos povos que foram apagadas ao longo da história? Mas eu tenho para mim que, ainda que a gente não se lembre, essas memórias estão em algum lugar. E temos que procurar ampliar o nosso campo de memória, assim como voltar a ter atenção ao mundo. E essa atenção, eu acho que a gente recobra muito em contato com o próximo, com a natureza, estando aqui, abraçando. Isso te põe na terra, te aterra, não é? E, com memória e atenção, vamos antecipar melhor. Imaginar futuros desejáveis nos leva a agir, que não é esperar. Esperançar, como Paulo Freire dizia: você antecipa e age. Isso que eu imagino, as plantas me ajudaram muito, e a minha querida Anna também, nesse longo processo de juntar os três Fabios.
Anna Dantes
É um presente iniciar a fala sobre as escolas sem paredes começando pela espiritualidade. Realmente não existe parede para a espiritualidade.
Mãe Sara
E é verdade. Verdade absoluta.
Anna
Tá lindo, né?
Mãe Sara
É que eu fiquei emocionada com o que Fabio falou.
Anna
Uma conversa com pontuações muito interessantes!
Então, para quem não me conhece, meu nome é Anna Dantes. Dantes não é meu sobrenome verdadeiro. Eu comecei a trabalhar com memória aos 19 anos a partir de uma livraria de livros usados. Foi a medida do meu possível de começar a minha vida. E o nome da minha livraria era Dantes. Aos poucos eu fui identificada com esse nome. E todo o meu trabalho era muito ligado à memória a partir do mundo dos livros e das plantas. Das plantas começando desde a minha avó, que falava com as plantas.

E aí são muitas coisas que a gente pode chamar de mágicas ou mistérios que foram a minha maior escola de vida, já que, depois do ensino médio, eu não fui à universidade. Fiquei muito agoniada com a questão da universidade, da academia. Fiquei grávida muito cedo e a vida me levou para essa relação de escutas, de palavras, de leituras, de entendimento do mundo a partir dessas leituras que eu ia fazendo dentro da minha livraria. Me tornei editora, trabalhei muitos anos com o povo indígena que é o povo Huni Kuin. Isso foi em 2011. E, desde 2018, a gente tem um projeto chamado Selvagem – Ciclo de Estudos Sobre a Vida, que é um projeto, que é uma escola sem paredes, que liga arte, espiritualidade e ciência.
Em rodas de conversa, em ciclos de estudos, em cadernos, quem quiser pode acessar esse material absolutamente disponível, gratuito e que conta com uma rede colaborativa muito forte. Temos uma comunidade que trabalha com tradução, com preparação de texto, um grupo grande de educação que está levando esses conteúdos que nunca chegaram às escolas, que são conteúdos de memórias ancestrais, de outras línguas, textos em Guarani, que vão sendo traduzidos por esses grupos e são [parte dos] ciclos. Enfim, é um universo ali como se fosse uma universidade, mas uma pluriversidade, e que a pessoa pode entrar por um assunto, como os seres invisíveis, e chegar a outro assunto, que seja a regeneração de Gaia, e ali ela vai também ter um ciclo sobre sonhos. Esse ano a gente publicou esse ciclo sobre o sol, sobre várias narrativas do sol.
E, dito isso, me colocando aqui dentro dessa escola sem paredes, dessa prática de escola sem paredes, porque não existe um lugar de Selvagem, o Selvagem ocupa lugares, ele coloca as suas bandeiras, assim como aqui. E ele acontece, pode ser no MAM [Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro], no Teatro do Jardim Botânico, pode ser online, pode ser numa sala de universidade, num jardim, com crianças, com pessoas de todas as idades, com gente acadêmica, com gente não acadêmica, enfim. Ele é muito versátil, muito plástico, tem uma força de adaptação aos modelos e contextos.
Então, dito isso, acho que eu gostaria de falar um pouco sobre esse analfabetismo da espiritualidade, que eu acho que cada vez mais — isso para mim — é uma grande lacuna que essa sociedade adoecida vive. Muitas pessoas acabam se medicando e nunca consideram a possibilidade de que elas tenham alguma questão que possam trabalhar espiritualmente. Essa sociedade, muitas vezes, tem uma questão de desconforto em relação a como o gênero é aceito, e ela, muitas vezes, não se pergunta o quanto ela é… ela pode ser onça, ela pode ser borboleta, um dia ela pode ser homem. Eu acho que, por exemplo, em relação ao time de futebol Botafogo, eu fui muito mais menino do que menina, porque meu pai não tinha filho homem e eu fui o menino que ia com a camisa do Botafogo para o Maracanã com ele e ficava ali com a bandeira. Então, assim, eu fui um moleque pra caramba em relação à minha infância. Eu acho que somos mais trans do que imaginamos. Tudo está atravessando tudo, o tempo inteiro. A gente está sendo atravessado, nossas células nem são só humanas, 52% das nossas células são de outros seres que estão aqui e que podem estar com vontade de beber uma cerveja agora. Não sou aquele eu que eu acho que sou, eu sou uma composição. Então, o Selvagem é muito sobre essa possibilidade, e considerando essa questão de fato de que existe e é urgente essa outra escuta de mundo. Uma escuta que se faz, muitas vezes, no silêncio, uma escuta que se faz com o que a gente chama de intuição. Como a gente vai agir, o que a gente vai escolher. Isso é quase uma política de relações o tempo inteiro.


Outra questão é a questão da proteção, você trabalhar a sua proteção, conhecer quais são as suas armas de proteção, você entender se você tem permissão para fazer determinadas coisas. Isso é algo que o Selvagem é muito respeitoso. A gente só faz alguma coisa, a gente só adentra se aquilo ali conquista essa permissão. E essa permissão, às vezes, ela é dolorosa, ela não é fácil, porque ela envolve outro tipo de diálogo que nem sempre é com humanos, dentro de algo que é pouquíssimo dito na nossa vida. Eu acho que é pouquíssimo trazido isso: isso não está nas escolas, isso não está nas relações das famílias, isso não é dito. Eu acho que o Selvagem tenta criar um campo de uma escola sem paredes para que essa escuta do invisível possa fazer cada vez mais parte e contar mais com a nossa confiança, porque eu acho que a confiança nisso é fundamental, a confiança na biosfera. Muitas vezes, a gente está em algum trabalho e as pessoas só estão falando: “É importante fazer isso, é importante a memória”. Até que ponto você está exercendo isso? Você está vivendo isso? Você está confiando que existe uma conexão entre tudo e que as decisões começam a se arranjar? E você consegue ler isso?
Então, acho que é uma alfabetização, algo que precisa estar mais em circulação, até porque a gente está num momento muito perigoso do mundo, e que talvez seja essa mudança de consciência que vai ter que acelerar. Ela já está acelerada, só que de um jeito muito louco. Então, acho que são questões que eu gostaria de trazer para essa escola sem paredes.
Eu adoraria falar também, sabe, uma outra coisa que vai acabar se tocando, segura um minuto aí [falando para Iazana que estava sinalizando o final dos oito minutos com o maracá], que é uma coisa muito louca que eu fico pensando muito, que é o game. Eu acho que essa história toda da mineração, desses espíritos que ficaram guardados na terra em camadas muito profundas e que vão abrindo, eles são animados e eles estão na nossa mão. Eles estão pautando muita coisa, eles estão no digital hoje em dia. E eu acho que a questão do celular e do computador e dos games e desse mundo que está animado e que tem uma agência sobre nós e que tem um domínio sobre nós, ele é espiritual também. Então, a leitura do que é espiritual também não cabe só em determinadas [categorias]. Eu acho que é importantíssima a doutrina porque eu acho que é para você lidar com essa função. Se você não tiver uma mãe, sabe, alguém que chega ali e fala, que consiga mediar essa leitura, é muito mais arriscado. Mas, ao mesmo tempo, é muito ampla essa função e esse trânsito de informações contínuas. Então, é isso, para começar.
Iazana
Então, a coisa que pensei em trazer para compartilhar é justamente o corpo.
O tempo do corpo, da experiência, de uma metamorfose de si agenciada à educação e de quanto isso é cada vez mais avesso a um mundo conectado ao celular e às escolas que afirmam suas paredes.
Gostaria de falar do corpo junto à experiência do Floresta Cidade [projeto de extensão, ensino e pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU UFRJ] que eu coordeno e que tem, hoje, 40 estudantes, fora os das disciplinas regulares.
Acredito que praticamos uma escola de desconstrução de paredes. A educação tem paredes, a universidade tem muitas paredes, de vários tipos, e a prática do Floresta Cidade é desconstruir essas paredes para criar relações diretas com a vida. Esse gesto de tirar paredes, tirar coisas que sejam, talvez, excessivas em nossos espaços educacionais, não está apenas nas atividades de extensão junto aos territórios parceiros, mas também na própria sala de aula das disciplinas Floresta dentro da FAU.
Quando estamos em disciplinas regulares na FAU, fazemos uso de uma sala, ainda literalmente com paredes, mas ao menos sem pranchetas e cadeiras. Uma sala vazia para entrar somente com o próprio corpo e sem sapatos. É para deixar o resto de fora, inclusive o celular. Então, esse gesto de uma sala de aula apenas com um piso de madeira e um incenso aceso, algo que seria mais possível de encontrar no curso de dança da UFRJ, é um gesto estranho na arquitetura. E só esse gesto, só essa imagem, gera uma confusão dentro da faculdade. Já mudaram quatro vezes a sala do Floresta de lugar e todo novo semestre eu sinto a ameaça de perder a possibilidade da sala vazia. Isso em um edifício enorme que, a meu ver, pode ter até mesmo um erro de escala, apesar da excelência do arquiteto que o desenhou e da boa vontade de alguns colegas de tentar resolver o problema da existência da sala vazia na arquitetura.
O edifício da FAU‒UFRJ, o JMM, foi construído numa perspectiva de arquitetura moderna que tem coisas bonitas e fortes, mas que está circunscrita num tempo que não nos cabe mais, no meu ponto de vista. Claro que diversas coisas ainda cabem, tudo é múltiplo, mas essa arquitetura aponta limites claros aos problemas atuais, como o uso excessivo de concreto, a produção de espaços grandes demais, a aposta no Estado como produtor de igualdade social através de equipamentos públicos e habitação social, apenas para citar alguns. O gesto da sala vazia gera um desconforto, talvez porque evidencie a existência de modos de ensinar não convencionais dentro da universidade. Isso não é fácil de sustentar como professora, e o ponto mais sensível desse gesto não convencional é justamente o corpo. Ativar o corpo, ativar o sentir, acender um incenso, permear a sala com tecnologias ancestrais, levar diferentes plantas, ervas, entusiasmos, desafios, outras cosmologias e fazer a ponte do projetar com o que o Fabio trouxe hoje, a espiritualidade (ou a virtualidade não religiosa), entre outras coisas que causam estranhamento ao modo hegemônico de pensar a concepção de ambientes construídos.

Tudo isso é visto como algo talvez não benquisto, como uma ameaça ao que vem sendo feito há anos. Mas por que é tão problemático? Fico pensando que, de um lado, pode ser a defesa de um território conhecido como arquitetura, mesmo que as bases do mundo estejam em franca mudança com a urgência climática. Por outro lado, talvez seja o próprio sintoma da ausência do corpo na educação que se agrava nos últimos anos. Ao que parece, cada vez mais os corpos estão indisponíveis ao tempo da experiência e do encontro com o que é diferente. É perceptível em toda a universidade, inclusive nos estudantes, cada vez mais acelerados, sem tempo e divididos entre o celular e a sala. Tudo isso, todas essas paredes parecem ser avessas à experiência capaz de transformar, aquela que conecta ao sentir e cria disponibilidade à relação com o outro, seja humano ou não, e, por consequência, à transformação de si.
Então, tem uma luta ali, ao trabalhar o corpo em uma sala vazia na FAU. Tem uma afirmação do conhecer com a vida, do corpo como parte da Terra, da conexão com o sentir e com o presente, que muitas vezes são encontradas em lugares “ditos espirituais”, como práticas de meditação, por exemplo. O corpo na universidade de arquitetura normalmente não anda descalço, não senta ou deita no chão, não procura escutar o coração, apesar de ainda ter aulas de desenho à mão, o que eu entendo como uma resistência na faculdade. Enfim, eu aprendo com a dança, o teatro, a yoga, os Tupinambá, os Baniwa, o Candomblé, o samba a sentir, a viver a experiência de sentir com o corpo, com o coração, de ouvir os sinais que a natureza emite o tempo todo, de entender que o território está todo vivo e pode, por vezes quer, se comunicar conosco.
Então, sentir a vida que pulsa em um espaço, o jogo das coisas que acontecem em um terreno de projeto, perceber como isso tudo toca o seu próprio corpo é um exercício tão precioso para quem pretende fazer um projeto de arquitetura em um mundo em colapso. Esse exercício pode ser fundamental para a regeneração do habitar humano na Terra e pode, ainda, contribuir para recuperar uma arquitetura poética, muitas vezes esquecida em detrimento das funções e dos modelos ou, ainda, uma arquitetura capaz de atuar em um habitar humano mais conectado com os ecossistemas.
Mas me parece que é cada vez mais difícil o corpo entrar no tempo da experiência. É isso que eu queria trazer como uma questão. Quebrar as paredes não é só sair da universidade, com projetos de extensão, pesquisa, ações, mas é sair para outros tempos, mundos, experiências. Quebrar paredes, tirar mesas e paredes da sala de aula, fazer uma vivência em território Tupinambá é buscar uma mutação, uma metamorfose de si. E isso é muito atacado sempre porque coloca em questão o que vem sendo feito. Eu posso falar de reflorestar a cidade, mas como eu falo disso? Com dados e artigos? Quando eu cubro o corpo dos estudantes com folhas, quando saímos na rua com a cara pintada com argila e Parangolestas junto da Companhia [de Mystérios e Novidades], quando falo de espiritualidade ligada aos espaços tradicionais, então isso é um lugar passível de ser questionado como não arquitetura. Mas, ao meu ver, é justamente essa ruptura da parede o dispositivo que faz com que a gente incorpore outros tempos e acesse a experiência de conexão com a Terra.
Queria ouvir de vocês, né? A minha fala é uma pergunta. Como vocês sentem a diferença do tempo? Como podemos trabalhar com essa nova geração? Que outros dispositivos a gente pode ter? Como que a gente seduz, sobretudo essa geração altamente ligada à tecnologia, ao celular? Como desaceleramos essa galera? Porque eu acho que a gente aqui veio de uma outra cultura. Porque mesmo tendo momentos em que a gente vicia no celular, acho que todo mundo já viveu essa experiência de estar viciado no celular, mas você desconecta um pouco e dá uma “desviciada”. Mas a sensação que eu tenho com os meus alunos é que não há mais esse fora da tela.
É o tempo inteiro uma conexão com esses espíritos do fundo da Terra, né? Como disse Anna Dantes. É muito presente essa experiência. E isso tem a ver com a política atual. Vou fechando a minha fala aqui. Me parece que essa onda do fascismo, essa onda da extrema-direita, que encaixa tão bem com a tecnologia, que encaixa tão bem com palavras de ordem, com a rapidez das redes sociais, ela está favorável a isso. Enquanto as práticas que a gente chama de esquerda, para facilitar o discurso, exigem a experiência, o coletivo, a presença de outros mundos. Só que a gente está perdendo a linguagem. Na disputa, a gente está perdendo a linguagem. Então, me pergunto: como agora, como é que a gente aprende se não há tempo para experienciar, sentir, metamorfosear? São paredes virtuais, talvez ainda mais duras que as de tijolos.
Marcia Brandão
Eu tinha preparado uma fala, mas todas essas falas mudaram completamente o que eu quero falar.
Eu vou me apresentar. Sou Marcia Brandão. Sou da ciência, das artes e do mundo espiritual, desde criança. Os anjos sempre foram uma perspectiva para mim, também eu tinha esqueletos, eu decorava os ossos do corpo humano, e era naturalista, olhando os bichos. Vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade, mas há 25 anos eu faço museus de ciência, fabrico brinquedos científicos — inclusive com o Museu do Amanhã —, que são interfaces de comunicação de temas variados das ciências. O primeiro que a gente fez foi o Museu da Vida, em 1999, construindo brinquedos de física e de biologia.

Do ponto de vista espiritual, para mim, a natureza é o divino. Se você for ver a descrição do paraíso, é absolutamente o que a Terra sempre foi? Na verdade, nós éramos coletivos e fomos separados. Por isso que as redes sociais fisgam todo mundo. A gente quer ser coletivo, a gente quer estar junto. Se pensarmos nisso ao longo da história da humanidade, sempre estivemos em coletivos. E nós somos interdependentes com a natureza também. E a gente se separou disso quando o capital passou a ser o foco. A gente fala e tem ideias, mas elas não viram atitudes. Quando eu fui ao Chile, eu aprendi a não descartar o plástico e a fazer tijolos. E como eu moro dentro de uma reserva, que virou reserva depois que eu fui morar, reserva da Siribeira, eu não descarto o plástico nem as bandejinhas. Mas eu vejo as pessoas serem socialistas, escolhendo o lado luminoso da força, se prezando muito em relação ao plástico no oceano, mas não sendo capazes de levar uma garrafa de água limpa pro morador de rua. Dificilmente o discurso vira uma prática.
Então a gente separou o discurso da ação, esse corpo que foi sendo separado primeiro pra ficar dentro de uma caixa. Bebês no décimo andar, nunca o pé no chão, nunca uma vida em contato com a maravilha que é a criação. Do ponto de vista humano, nós somos territorialistas, egoístas, estamos sempre defendendo o nosso. E, agora, com Plutão entrando em Aquário, [seremos ainda mais desafiados]. Sou da matemática, o que me interessa na astrologia é o desenho [dos mapas]. Plutão dá uma volta ao redor do Sol em 248 anos [e lida com a criação-destruição-renovação]. Ele entrou e saiu de Aquário [e agora está entrando de novo]. O que é Aquário? É o coletivo, é o conjunto das consciências despertas. Esotericamente, [em Aquário] nem existe avatar. O programa de Aquário é que todo mundo tem que fazer junto. Pronto, temos um problema. Nem associação de moradores dá certo. As pessoas brigam por coisas que não têm a menor importância. Plutão em Aquário esteve na Revolução Francesa. Então, são coletivos potentes, mas também disruptivos e distópicos.
Podemos dizer que até as bactérias prosperam por sua união. Formigas, cupim, por exemplo. Voltarmos a estar juntos, de fato, pode ser potente. Mas a questão de Aquário é assim, você tem que ser voto vencido e não criar dissidência. Tem que fazer adesão na hora. Você vai ter que se afirmar diante dos outros.
Eu estudo cabala africana, porque a origem da cabala é de 6 mil anos antes de Cristo. A cabala judaica, mesmo a hebraica, é do século XII, século XI. Diz que o coração tem que estar quente e a cabeça fresca. Você tem que trocar esse calor. Então você tem que esquentar, e o órgão da sabedoria para os africanos ancestrais é o coração. Nenhuma crise deve morar na mente. Tudo tem que ir para o centro, até o quarto chakra. É quando você vira guru, quando você chega no quarto chakra, que é o coração. E a nossa crise é de indiferença, porque Aquário também é a indiferença, para o bem e para o mal. Então, assim, estamos numa crise, na verdade, de retorno à percepção do afeto libertário, onde você liberta o outro do seu julgamento, deixa o outro ser errado em paz. Mas sua opinião não tem a menor importância diante de uma crise de alguém, porque na crise você está só. Os amigos são assistência técnica, são apoio. Mas você está só com a sua angústia e a história não dá a menor bola para a nossa angústia. Então hoje a gente tem um mundo em crise, nós temos 20 anos pela frente [regidos por Aquário] para que a gente se reúna em grupos, que a gente se conecte, que a gente aprenda isso, a aceitar com alegria as diferenças, a diversidade. Porque a natureza é biodiversa sim. As bactérias vão mudando. Elas são o pixel da existência. Elas se transformam o tempo inteiro. Então é essa capacidade adaptativa que a gente precisa para deixar de reclamar. Se você quiser reclamar, você brinca. Porque é tudo muito errado. Vamos muito mal como histórico.
Fiz [uma interface para] o Museu da Quinta da Boa Vista [para explicar] a escala da geologia. O humano é uma criança de três anos. Para a geologia, o humano acabou de chegar. Entendeu? É agressivo, morde o coleguinha na creche. Bate com o carrinho, estraga o brinquedo. É o “eu” que só [quer] receber. Não quer doar. Está no não. Tudo é não. Então você não tem nenhuma paciência com ninguém porque a gente não amadureceu e não se acalmou para estar um pouco mais habilitado. Está em autotransformação. Não é o outro mudar, é você. Se ninguém descartasse o plástico mole, não ia precisar da prefeitura. A ideia é essa. Então estamos muito longe disso. Ainda estamos armados. É um negócio lá do início do século XX, do século XIX.


Então assim, mas a gente é sal da terra. A gente é velinha, luzinha na escuridão. E a gente pode ser nanopolítica. Sabe? Acolhendo seu vizinho. Apoiando as pessoas à sua volta. Porque a pessoa está ao alcance do seu amor. E para isso precisa do autoamor, que é um autocuidado. E você faz mudanças em você. Porque a gente é um projeto humano cheio de bug. Cheio de coisas para ajustar. Se você não admite isso, quer ser o certo, acabou isso. Isso não existe mais.
Então acho que era essa a reflexão. Nem falei mais de Plutão e Aquário!
Sandra Benites
Boa tarde. Meu nome é Sandra Benites. Sou do povo Guarani. Eu sou professora, antropóloga e curadora. Hoje também sou diretora das artes visuais na Funarte. E já fiz um monte de coisas. Hoje eu só queria trazer uma memória e falar um pouco desse lugar da academia.
Eu vou trazer a minha experiência como educadora, acadêmica e indígena. Que é outro lugar que nós indígenas carregamos quando estamos nesse lugar de academia, que a gente enfrenta, que nos é imposto. Embora a gente entre pra academia para buscar ciência, ou seja, conhecimento — que na verdade não é a gente buscar o conhecimento, mas para somar aquilo, que está em, eu diria, algumas lacunas, para poder dialogar com o outro. Eu acho que é isso a ideia. E aí, a partir disso, eu quero trazer bem rápido a experiência com meu filho.

Meu filho é engenheiro ambiental. Ele está fazendo curso agora. Ainda está no processo de formação na Universidade Federal de São Catarina. E aí, o que que acontece? Quando ele entrou, ele entrou como gestor de partida e aí, um ano depois, ele me ligou e falou que ia desistir. E aí perguntei: “Por que?”. Ele me ligou frustrado, deprimido, porque perdeu totalmente a confiança que tinha por ele, porque a própria universidade diz que ele não tem. Como? Na época que entrou, ele tinha 18 anos, um adolescente. Nós sabemos como nesse tempo é frágil. Qualquer coisa diminui a gente. E nós somos indígenas também, entendeu? De outro lugar. E aí eu lembro que ele falou pra mim que se ele estudasse na escola particular, ele poderia acompanhar os colegas que são hipergênios pelo cálculo de física e química. Na cabeça dele, ele acha que não tem essa competência. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei pra ele que podia trancar a faculdade, “fazer o que você quiser fazer”. A única coisa que eu falei pra ele é pra ele acompanhar o movimento indígena.
E ele fez isso. Eu acho que na maioria das vezes nós, mães, não fazemos isso. Porque a gente quer empurrar os filhos. A gente coloca uma pressão nessa pessoa, que é o resultado da nossa sociedade colonial. Isso tem a ver com racismo estrutural. Aí eu vi que ele ficou muito triste, muito deprimido, como se não tivesse competência para nada. E aí eu falei pra ele que a culpa não é dele. Na verdade, a universidade não tem nenhuma competência para receber vários conhecimentos. Por isso, ele se sentiu excluído, porque de fato é.
E aí eu queria trazer para gente, para nossa pesquisa, essa questão de exclusão. Na época chamei ele, aí eu expliquei, contei a história. Eu falei que o nosso conhecimento Guarani, isso é, a população de modo geral que tem esse conhecimento, essa ciência que dialoga com o elemento da natureza, que todos nós temos, entendemos que isso envolve pedir permissão pra entrar na água, pedir permissão pra entrar pros espíritos das árvores, dos rios, dos animais, para fazer colheita, para plantar também, a gente faz um ritual coletivo e a gente pede permissão pros espíritos. Então, isso é um processo de produzir conhecimento e de preservar aquilo que faz parte da nossa existência também, porque a árvore, a água, tudo isso faz parte da nossa existência. E aí, eu contei essa história e falei, não que ele não saiba, ele sabe sim, ele escutava isso, porque isso é a base. E aí, muitas das vezes, quando a gente fica perdido, precisamos voltar ali para que a gente se fortaleça.
E como essa pessoa vulnerável vai se sentir valorizada diante de um conhecimento que muitas das vezes não é nem sequer falado numa universidade? Isso é muito comum nas universidades. Eu falo isso porque eu também faço parte disso. Então, quando a gente fala sobre nós, mulheres guarani, por exemplo, quando a gente está menstruada, a gente se resguarda, não vamos pra universidade, não vamos correr doidamente pra entregar o trabalho, nesse dia descansamos. A gente se resguarda para cuidar do nosso espírito, do nosso corpo, da saúde da mulher — saúde física, mental, e de coração. Agora, nem se quer falar quando se trata de mulher na universidade. Se você está menstruada, está doida, ou qualquer coisa. Você tem que estar lá. Então, eu acho que falando dessas experiências eu queria trazer, na verdade, para gente pensar que na prática também requer território. Como é que você vai garantir esse conhecimento prático para outras gerações que muitas vezes não têm mais nada?
E outra coisa, falando de tudo isso, recentemente fui pra Itabira, Minas Gerais, para falar sobre arte, experiência, e aí eu lembro que um rapaz, um professor, ele falou assim que lá a cidade incentiva muito — muitos engenheiros, inclusive — trabalhar na mineração, com a ideia de ganhar muito dinheiro. Então, como é que isso deve ser na cabeça desse jovem, que com a ideia de ganhar muito dinheiro, de ser bem-sucedido, sem pensar? Então, isso é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande, e eu acredito que pra gente minimizar isso, eu acho que é importante começar lá em cima, que é a universidade.


Eu acho que é importante ali pensar e discutir sobre isso. Então, eu não estou dizendo que os professores não podem ensinar química e física, eu estou falando que a forma de pensar e de fazer cálculos de física e química é diversa. Cada um tem uma outra metodologia de fazer, mas a gente está falando da mesma coisa, é de preservar isso, de preservar aquilo. Então, é isso que a gente precisa. Sem isso, não vamos conseguir continuar, cada vez mais a gente vai tirando o pensamento desses indivíduos e um dia vai ficar sem cérebro. Parece que estamos indo por esse caminho. Eu acho que o nosso cérebro é totalmente fervido, muita das vezes, nessa lógica que está sendo exposta pra gente. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada.
Guilherme
Muito obrigado, Sandra. Na rodada aqui, agora seria a Lígia a falar, mas como está gripada e prefere hoje só escutar, eu vou falar por oito minutos.

Primeiramente, eu gostaria de falar que esse símbolo da Bandeira da Paz, ele é ancestral. Mas o que é um símbolo? Nós, no nosso aprendizado acadêmico, formalista, conceitual, temos dificuldade em abordar e retomar o sentido de símbolo (ou simbólico) como potência de algo como dispositivo-instrumento de transferência, transporte, veículo para o imanente e para o transcendente. O símbolo é a materialização e, ao mesmo tempo, é o que provoca transferência, transporte para o desconhecido, o intangível. Esse símbolo, então, foi encontrado pelo Nicholas Roerich nas suas expedições. Mas é interessante como sua presença desfraldada na Bandeira desafia nossas próprias acomodações positivistas. O quanto isso pode ser um símbolo ancestral da origem e devir da Terra? Um símbolo de potência do futuro da Terra ameaçada pela cultura da violência e autodestruição da humanidade. Assim, este símbolo também é reconhecido como o da Mãe do Mundo e sua potência regenerante que ainda não está manifestada. Um símbolo também desafiante que expõe o nosso próprio diagnóstico da doença planetária da fragmentação e a intuição — ancestral — para um devir da cultura de síntese.
A gente acaba de ouvir a Sandra sobre a fragmentação. Você tem artes fragmentadas, a fragmentação das ciências, as ciências fragmentadas e as religiões que querem controlar todas as formas de espiritualidade e transcendência. E das instituições de arte que querem controlar todas as formas estéticas de expressão. E, assim, da ciência como produção de pensamentos.
Então, eu começaria retomando um pouco a memória deste símbolo da Bandeira da Paz ou do Pacto da Paz que ele representa. Essa bandeira é vinculada a um movimento transcultural do casal Helena Roerich e Nicholas Roerich. Também conhecida como Pax Cultura, a Bandeira era parte de uma ponte entre Ocidente e Oriente, ou, como também é conhecida, Cruz Vermelha da Arte e Cultura. Atravessando períodos de guerras e conflitos, a família Roerich, com seus dois filhos, o cientista George Roerich e o artista Svetoslav Roerich, dedicou suas vidas a uma utopia espiritual, com expedições à Ásia Central, que culminaram no Pacto da Paz assinado em 1935, com especial apoio dos países da União Pan-Americana, assinado na Casa Branca. Os Roerichs dedicaram mais de três décadas (desde os anos 20) à defesa da unidade e paz através da diversidade das artes-ciências-religiões, expressando uma Ética Viva entre Ocidente e Oriente. Em 1923, os Roerichs realizaram a primeira expedição à Ásia Central, explorando história, arqueologia, etnografia, história da filosofia, arte e religião. Em 1928, fundaram o Institute of Himalayan Studies “Urusvati” (que significa “Luz de Estrela de Manhã” em sânscrito). Helena e Nicholas Roerich elaboraram os fundamentos da Bandeira/Pacto da Paz a partir de [uma] cultura de síntese — a unidade e diversidade das artes, ciências e espiritualidades. Eles encontraram o símbolo desses três círculos unidos na Mongólia e em vários outros lugares, culturas e épocas, mas adotados por diferentes sentidos. Esses três círculos remetem à unidade tripartida, que nos faz pensar na superação da era da fragmentação, apontando para uma nova era que seria da intuição como síntese. O círculo externo foi o artista Nicholas Roerich que o colocou [e concebeu].
Não cabe aqui um discurso sobre a cultura de síntese, mas a experiência dessa rodada já é uma chamada para todos nós pensarmos na síntese através da escuta das várias falas que aconteceram até agora. Como é que a gente pode provocar esses exercícios circulares de síntese? Como criar possibilidades para laboratórios de síntese? Como Mãe Sara [disse], como é que a gente dá esse salto quântico? Fiquei muito interessado em pensar as múltiplas dimensões do que é o quântico, tais como a materialização entre a experiência da forma sensível dos símbolos circulares, as intuições compartilhadas aqui, e a Bandeira desfraldada aqui, agindo como transporte para um devir regenerante emergente/urgente. Mas esse símbolo antecipatório habita este planeta há milênios. Então, retomando o sentido simbólico da Bandeira como instrumento de síntese propaga uma “psicovida” antecipatória compartilhada. Estamos aqui reunidos na espessura palpável de interfluxos não ainda conscientes. E o que o Fabio fala várias vezes: nós estamos aprisionados num sistema de diagnóstico de explicação, mas precisamos dos acontecimentos poiéticos da sensibilidade expandida da síntese — artes-ciências-espiritualidades.
A síntese é também uma aceitação, como a Márcia falou aqui. Como se acolhe aquilo que não é você, o não ainda consciente, os outros modos de saber? Como é que você acolhe o imprevisto? Então, essa roda em torno da Bandeira forma uma escultura social com várias circularidades como um convite para o pensar-sentir quântico. Pensar uma escola da virada da sensibilidade sem paredes. Se reunir aqui em roda, ao redor desse símbolo, também pode ser visto como uma experiência de uma escola transtemporal sem paredes entre passado-presente-futuro.
E para ancorar esse símbolo nas minhas experiências. Trabalhei no Museu de Arte Contemporânea de Niterói como diretor de educação e depois como diretor geral. Lá se materializava a forma e o verbo circular para um museu redondo sem paredes. Pode-se dizer, sem dúvida, que ali existe uma utopia antecipatória — um museu sem paredes [que não se separa da] natureza, a partir da intuição do Oscar Niemeyer, da desobediência dele, envidraçando todas as varandas. Neste museu sem paredes já [se] antecipava essa cultura [da] síntese, essa união das artes, ciências e espiritualidades, onde também Niemeyer acrescentou uma rampa espiral, uma rampa espiral como quem diz: “Caminha, olha e pensa redondo, dentro e fora do corpo-museu-mundo giram juntos”. Ali tem uma intuição antecipatória para um devir museu-escola sem paredes como lugar guardião da natureza. Querida Bia Jabor, querido Ivan Henriques, artistas-educadores na época comigo, aqui hoje, também foram parceiros naquela jornada onde a intuição encarnava os rituais da rampa como antecipações de uma era regenerante da arte como oferenda entre céu-terra. Estava latente ali uma escola sem paredes. Estava latente ali um laboratório de futuros. Ande em espiral, seja humanista e depois seja completamente uma partícula no oceano cósmico.
Essa experiência com o corpo [em] que você sobe a rampa como um ritual de reverência [é] o acolhimento da consciência de ser corpo-mundo. Pensar redondo, olhar e ser esférico traduzem a experiência de síntese com a Baía de Guanabara. A imensidão infinita de ser e se sentir minúsculo no oceano cósmico.
Então eu convido a todos a refletirem: Como é que é pensar em círculos, pensar redondo? Como escutar e receber alguma coisa do outro? Cada um capturou alguma coisa? Essa capacidade de escutar e fazer da sua própria síntese uma partilha de ressonâncias e simbioses, que é o objetivo desse encontro sem paredes. Então, em cada instante dessa experiência quântica, olhamos com as esferas de nossos olhos para essas três esferas neolíticas e ancestrais da Bandeira da Paz como função utópica da arte — ser transporte antecipatório de futuros não ainda conscientes. A retomada da dimensão antecipatória de uma utopia espiritual das artes como ciência de gerar encontros inauguradores de futuros.
Acabou meus oito minutos. Então é uma provocação pra gente agora poder abrir a roda para outras falas, para quem quiser complementar suas falas.
Mãe Sara
Sim, quero só complementar essa escuta do invisível que Anna trouxe. O que acontece? A gente aprendeu a usar só os cinco sentidos. Não aprendemos a enxergar as artes. Isso que a gente chama de invisível. Precisamos trabalhar para enxergar além do concreto. Usar um sexto sentido, que é o sentido da percepção e é o maior sentido que a gente tem. Só que a gente não desenvolve. E aí acabamos não conseguindo enxergar além. Então, primeiro, precisamos aprender a usar esse sexto sentido, o sentido da percepção, para poder enxergar isso que a gente acha que é invisível.

E tem uma outra coisa que eu queria falar. Eu ia dar uma ideia de voltar lá atrás e aprender com os indígenas, porque eles já estavam aqui. Eles sabem como viver nessa terra muito bem. O meu caboclo diz assim: “Lá, o nosso sistema político-administrativo é disciplina sem comando, para que cada um aprenda a ter consciência do lugar, do limite”. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o sistema educacional. Acho que o sistema de educação, em vez de ensinar a disputa, a competição, deve ensinar isso. Gente, eu falo muito sobre essa questão da espiritualidade, porque eu aprendo muito com eles. Eu aprendo muito. A minha Pombagira, uma vez, perguntou para alguém: “Quem foi o primeiro homem que viveu nessa terra?”. Alguém respondeu: “Lá de Neandertal”. Ela continuou: “Sabe por que eles não conseguiram sobreviver na terra? Porque eles eram individualistas. Só conseguiram sobreviver porque eles aprenderam a viver no coletivo”. A gente se individualizando de novo, não vamos sobreviver. Não somos separados da natureza, inclusive das árvores. Eu tive uma experiência de conexão e interação com essa árvore. Ela não falava, não tinha uma voz, mas ela se comunicava comigo e eu conseguia me comunicar com ela. E ela fez uma cura impressionante comigo. Estava doente, uma depressão. Eu cheguei lá, sentei ali, comecei minhas orações, minha meditação e daqui a pouco eu senti essa troca.
Precisamos abrir o coração para essa comunicação com a natureza. Se a gente não abrir essa comunicação, não vamos enxergar, não vamos sentir, vamos achar que é sempre invisível, mas não é invisível, só precisamos aprender a enxergar. Eu acho que é isso. O povo que nasceu nessa terra, que estava nessa terra, eles sabem como fazer. Eles estão tentando vir para a academia para poder sobreviver, mas é a academia que vai sobreviver se for lá. A floresta me curou, não precisei de mais nada, só estar lá. Gente, é isso.
Joelson Gusson (Público)
Meu nome é Joelson Gusson. Lendo uma revista científica recentemente, algo me chamou muita atenção, que é essa questão das telas. Não saber como as pessoas vão sair dessas telas, como se estivessem abduzidas. Isso já está sistematizado pelos sistemas mundiais de saúde como doenças mesmo, como síndromes. E tem aí a síndrome da dependência de tela, que é a pessoa que não consegue ficar mais fora da tela. E a outra síndrome que me impressionou muito se chama “nomofobia”, que é o pavor de ficar sem o celular. É o pavor de o celular descarregar, é o pavor de perder o celular. A gente sente esse pavor.

Para alguns, é um pavor de você não conseguir mais viver sem aquele acoplamento. Eu estudo bastante essa coisa dos acoplamentos ao corpo, enquanto extensões, enquanto próteses. No meu pensar, todos os acoplamentos são próteses: a roupa, a tintura do cabelo, o carro, o sapato, os óculos. Enfim, nós estamos com esse novo acoplamento que vem lá do fundo, como Anna disse, do fundo dos espíritos profundos. Estou levantando isso porque eu quero dividir essa leitura. Eu não faço a menor ideia de como isso vai [se] resolver e como isso vai chegar em alguma coisa. Mas achei importante compartilhar essa relação com as telas, como lugar de doença mesmo.
Cesar Oiticica Filho
Sou Cesinha Oiticica. Queria aproveitar que a gente está com a presença aqui da Jennifer Tupinambá que deu um presente lindo pra gente esse ano na Parada 7. Mais do que a vinda dos Tupinambás desde a Bahia, eles já estavam vindo, mas eles anteciparam a vinda para estar conosco na Parada 7… quase não conseguem chegar.


Para ser bem rápido, foi uma emoção ver os Tupinambás brotarem da terra, saindo de dentro do metrô da estação Carioca no centro do Rio. Tudo deu errado porque os motoristas não podiam trazê-los pro centro porque eles já tinham viajado 24 horas dirigindo. [Precisaram pegar o metrô]. Eles saíram de dentro da terra e retomaram simbolicamente o Rio de Janeiro, incorporando uma das faixas na Parada 7 que era “Rio-Terra-Tupinambá”. Foi emocionante. Mas, para mim, o mais simbólico e que dialoga com essas perguntas aqui, foi o final mesmo, quando eles, para além do discurso da ciência e da espiritualidade — mas com tudo isso junto —, fazem essa espécie de espiral humana nesses corpos se juntando e formando uma espécie de cobra, um organismo realmente vivo, um animal ancestral do seu povo e outros, porque eles já são o povo que teve o primeiro contato, então estão totalmente atravessados por todas as etnias que compõem o Brasil.
Isso pra mim é um exemplo muito vivo e visual. Através do corpo de tudo isso que a gente precisa fazer para virar essa chave para mudar. Como a Mãe Sara falou: a resposta já tá ali, eles já são um exemplo, eles já são o norte, eles já são esse corpo coletivo que a gente precisa abraçar para realmente virar. Precisamos aprender com eles e realmente voltar a ser isso. Talvez, seja só nesse momento que a gente possa fazer essa mudança que tá chegando. É isso. Obrigado, Jennifer.
Marcia Brandão
Algo que podemos falar em relação a tudo isso: um tempo atrás juntamos doze pessoas e compramos uma terra na Amazônia. Cento e setenta mil metros quadrados. Há quantos anos? Vinte anos atrás?
Lígia
23 anos atrás.
Marcia
Eu nunca fui lá, mas Lígia, que é andeja, foi várias vezes, e agora a gente passou para um grupo fazer uma escola indígena sem paredes nesse lugar. Passamos a terra para eles.
Lígia
A própria Anna me ajudou nessa função.
Anna
E Fran Baniwa, né? Porque dentro desse coletivo que é o Selvagem a gente apoia o fortalecimento de cinco projetos que a gente chama de Escolas Vivas. Quem é a coordenadora desse movimento é a Cristine Takuá e as cinco escolas são: três na Amazônia; uma em Manaus, que é um centro de medicina Tukano; a aldeia da Fran Baniwa, que fica no Alto Rio Negro; e os Huni Kuin, lá no Rio Jordão no Acre. [As outras Escolas são] os Maxakali, em Minas, e os Guarani, da aldeia Rio Silveira no litoral sul de São Paulo. Então, a Fran foi lá com a Lígia [para a Amazônia] e juntas elas pensaram e sonharam essa possibilidade de criar um tipo de campus avançado da Escola Viva Baniwa nessa terra.
Marcia
Aí tem uma coisa que fala também do pensamento cabal ancestral que é que o futuro é o que constrói o presente, porque uma coisa tem que acontecer, coisas acontecem agora, um pouco como profecias, né? Condições de coisas que virão.

Anna
Acho que, além de profecias, também são formas de leitura. A gente tende a ler as coisas de uma forma linear, podemos ler em vários outros sentidos o que está acontecendo, então isso pode ter começado no futuro alguma coisa. E também ler nos sentidos que vão para dentro. Uma vez eu fui com a Sandra no MAR (Museu de Arte do Rio) para conversar sobre Escolas Vivas. Não sei se você lembra, Sandra. Você falou muito sobre a menstruação, o território, o feminismo, o que é a mulher, e [o que se permite como mulher]. A menstruação é um território. É um lugar para onde ela volta, então aí o sentido de tempo até pode ser algo para dentro. Isso inverte e muda totalmente nossa ideia de vida. Sandra falava que os meninos precisam do território físico para entender quem eles são. A mulher, ela entende isso no recolhimento, mas, muitas vezes, o menino, perdendo o território, ele perde essa possibilidade de transição, de rito de transição. Ele não vai encontrar isso andando mais livremente pela terra se ele é um caçador, se ele é um artesão, se ele é um plantador, e ela falou nesse momento que a mulher, guarani, ela vai a essas marchas por um território para que os homens tenham esse território para que os filhos delas possam descobrir quem são. Eu não sei se era isso, mas me lembro que me chamaram para escrever um texto sobre o que eu tinha que falar e eu escrevi sobre o que eu tinha escutado de você. Eu achei isso muito incrível, muito boa essa noção tanto de feminismo pelo outro, não só pelo seu gênero, [mas também] pelos seus filhos e o tempo de você criar o território dentro de você. Então, acho [que] essa Bandeira, nesse cerne, ela é uma camada de algo que é um cerne onde as coisas estão fluindo por dentro. A gente olha e mede isso medicinalmente, mas talvez isso seja algo que está por dentro. Aí eu me lembrei de sua fala, Sandra, sobre a menstruação. Colocando algumas ideias nessa roda.
Sandra
É por isso que é muito complexa a discussão da educação. Existe uma educação guarani e ela vem desse processo. Tem o ritual dos meninos, o ritual das meninas… e ela continua associada com os rios, com as árvores, com os animais. Tudo está associado. Então, se a gente não tem essa possibilidade mais, essa relação com o território e a natureza, acabamos sendo adoecidos. Hoje existe, principalmente no meu povo Guarani, no Mato Grosso do Sul… vocês viram que a violência está cada vez mais aumentando à frente dessas batalhas. E o Mato Grosso do Sul é o lugar que tem o índice mais alto de suicídios, e a grande maioria são os meninos. No nosso entendimento cosmológico, nós somos terra, o nosso corpo feminino é terra, por isso que a gente chama terra-mãe. Aí, para a gente fortalecer os meninos, digamos assim, eles tem um outro processo de educação que, na verdade, é uma soma, não é uma coisa à parte, mas também se equilibra tanto nossos filhos que a gente chama para eles se equilibrarem, porque de fato, hoje, não só na sociedade Guarani, mas na sociedade de modo geral, os homens estão muito violentos. Então, os homens violentos têm a ver com esse não lugar, não ter esse lugar. Então, esse não lugar de fato é frustrado — eles ficam mais violentos e assim tem mais violência para a gente.

Por exemplo, associamos a dignidade dos homens para a gente com o que é tatá. Tatá quer dizer fogo, mas fogo não é de uma forma ruim, é de uma forma que pode aquecer e alimentar. Mas também pode, se for excesso, se tornar violento. Então, por isso que para a gente tatá, o fogo para a gente, [pode também] significar doença, fúria, raiva. Minha avó contava a história que para nós, guarani, já existiu o fim do mundo, agora nós estamos no segundo mundo. O fim do primeiro mundo foi a água que subiu, o fim do segundo mundo fala que pode ser que o tatá tome conta da terra. Aí, usando essa metáfora, eu vejo que é isso, de fato, que a violência toma conta, toma conta da gente e de nós, mulheres.
Aí eu quero chegar a essa questão da universidade e exclusão. Quando você não discute o escopo de mães numa universidade, quando você exclui essas mães, quando você exclui essas mulheres que estão menstruadas, que estão no período de enlouquecedor, você está gerando pessoas violentas porque o nosso espírito não está bem. Eu escrevo minha tese sobre isso, trazendo esse lugar para o dia a dia. Recentemente, por exemplo, eu moro aqui no Rio, eu estava num domingo no ônibus, aí parou e tinha uma mãe com duas crianças indo para a praia. O menino, acho que deve ter uns cinco anos, estava carregando a cadeira para a mãe e a mãe estava com o bebê no colo, aí o ônibus parou e abriu [a porta] de trás para eles, e aí o menino tentou subir. Então, o ônibus estava cheio de pessoas com pressa olhando para a mãe, ninguém sequer se movimentou, só queriam que ela resolvesse com o filho e pronto. Aí o menino tentou subir e ele caiu. Quando caiu, a mãe olhou para todo mundo. Todos já olhando para seus pés, aí empurrou o menino no ônibus e ele começou a chorar e ela falou para não chorar e ele ficou assim olhando, segurando, reprimindo o choro, enquanto ela subiu com outro bebê e aí vai. Então, eu observo muito isso, como nós somos terra, a gente segura toda a onda, todo o peso. É importante entender que isso leva nossos filhos a serem frustrados, muitas das vezes violentos.
E aí como será essa criança adulta depois que não tem lugar de choro? Isso para mim é chocante e aí eu lembro da minha avó falando: “Se vocês não cuidarem bem das mulheres, das mães, o povo vai tomar conta”. E está tomando conta da gente. Por isso, eu acho que a escola sem paredes acontece na rua, acontece na vida do dia a dia de nós, se alguém ajuda ou não ajuda e aí a gente vai levando isso para o mundo porque nós somos o mundo. Esse mundo está balançado não é de uma forma positiva; está balançado de uma forma muito violenta. Eu entro em crise na hora de escrever, eu penso nas mulheres e às vezes eu choro, eu fico triste, eu fico deprimida também porque é isso que a gente passa no dia a dia. Isso precisa ser discutido nas escolas sem paredes.
Outra coisa importante é a memória. É muito importante a memória ancestral, essa memória que eu chamo de “acordar a memória”, acordar a memória e chacoalhar de novo aquela memória que é importante para nós, mesmo sendo doloroso. Por exemplo, a minha avó, ela contava histórias horríveis, [mas] ela não queria contar histórias como as que elas sofreram na invasão colonial, o que aconteceu com elas. Isso também é outro ponto que o Brasil nega isso, nega total a violência de nós mulheres sofrendo, da nossa cultura. Mulheres sofrendo e tantos sofrendo ainda, eu acho isso uma coisa muito pesada. E como é que vamos resolver?
Só para finalizar, recentemente fui na Pinacoteca do Ceará para falar sobre memória e arte e aí me perguntaram se eu tenho alguma esperança, porque a grande maioria, inclusive na universidade, já está frustrada, cansada e desesperançosa, pelo menos aqueles que pensam. Aí eu falei assim: “Se a gente for pensar muito no futuro, vamos adoecer e ficar frustrados sem movimento nenhum”. Eu acredito que o que me fortalece enquanto pessoa, enquanto mulher, é esse movimento, essa nossa roda de conversa, de troca, de partilhar nossa experiência, de chorar junto, trocar nossas dores, trazer a escuta e o diálogo. Isso nos toca no coração. Para gente também tem sentimentos [ligados] ao estômago, por isso que para nós guarani, por exemplo, quando a gente fala porque que a criança assustada tem dor de barriga, porque que criança quando leva susto, ou nós mesmo, adultos, quando a gente está muito nervoso, assustado, dói no estômago. Por isso que nosso sentimento está responsável pelo todo de susto, de raiva, de todas as coisas que a gente faz. Então, eu acredito que por isso que falamos que, quando escutamos, temos que conversar com o ouvido para lidar com o sentimento, e eu acho que essa roda de conversa faz isso, escutar o sentimento, conhecemos melhor o outro. Eu acho que precisamos buscar esse lugar pra gente se unir, e não só a gente, mas também outras pessoas. Acho que isso é uma responsabilidade, e também o que dá motivação pra gente continuar lutando pela força. Então, eu acho que é isso, obrigada.
Lucimara Rett (Público)
Meu nome é Lucimara Rett. Eu passei agora uma semana com o pessoal que veio do Rio Grande do Sul para um evento que se chama Campus Antropoceno. Tivemos debates muito interessantes ali na Escola Superior de Design. Eu venho pensando há bastante tempo nessa reconexão que a gente precisa fazer entre natureza/cultura. Vejo que a chave que a gente tem é o retorno ao feminino. Quando eu falo de feminino, falo não somente de gênero, mas da energia feminina, de respeito à Mãe Natureza, Gaia, Pachamama, como a gente quer chamar o reconhecimento dos saberes ancestrais originários e tradicionais. A nossa ligação com o tempo, eu estudo bastante; esse símbolo [da Bandeira da Paz] diz muito pra mim porque ele foi utilizado como sistema de contagem de tempo chamado sincronário das treze luas, que eu estudei por muito tempo. Isso foi uma apropriação que uma pessoa que se chama José Arguelles fez de uma contagem de tempo dos Maias, do calendário maia original. Os Maias tinham essa visão do tempo, eles tinham muitos calendários e o calendário Tzolk’in é um calendário baseado no corpo humano.
Refletindo um pouco sobre qualquer uma dessas modalidades de contagem de tempo natural, eu acho que a gente tem uma chave, uma pista, na nossa relação com o tempo. A gente tem o melhor relógio do mundo que é o sol junto com as estrelas junto com os planetas. [Devemos aprender] a olhar para essa contagem de tempo natural, porque a gente vive num calendário artificial que tem menos de 500 anos imposto por um papa, Papa Gregório. Vivemos com meses irregulares com dias, meses de 30, 31, 29, com a hora do relógio que não respeita os nossos ciclos circadianos. A gente dorme com a luz azul do celular, muito mais tarde do que deveria, acorda muito mais cedo do que deveria ou muito mais tarde do que deveria. Então eu acho que biologicamente estamos sendo afastados da natureza pelo tempo, pela nossa gestão do tempo, pelo calendário e pelo relógio. Então, queria trazer essa reflexão desses estudos que eu fiz.

E, só pra complementar, uma outra coisa que eu gostaria de falar [é que] eu também sou da academia. Eu faço parte de um programa que se chama EICOS (Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia) da UFRJ, e uma vez eu perguntei pra Cristina o que a Anna trouxe aqui: como é que a universidade poderia se preparar para receber essas pessoas que estão chegando com essa outra formação das escolas vivas? A universidade não está preparada, tem alguns lampejos aqui, do trabalho do Vergara, por exemplo, do trabalho do Scarano lá no EICOS. Que temos procurado pesquisar com e não sobre já é um avanço, mas não é o suficiente. Eu acho que temos que ter o protagonismo dessas pessoas na academia. Também, então, eu deixo mais uma pergunta: como a gente faz isso num sistema que hoje é disciplinar? Como lidar com a sociedade do controle? O que a gente faz com a sociedade disciplinar e a colonização na academia? Acho que Fabio e Guilherme trazem inspirações, mas a gente precisa de mais gente fazendo isso. Me coloco à disposição, obrigada.
Guilherme
Acho que um dos desafios dessa ideia das escolas sem paredes é [muitas vezes] cada um no seu microcosmos pensar. Como eu estou na universidade, no departamento de artes, reconheço uma defasagem tremenda entre a velocidade de mudança e o que de fato está sendo transformado, por exemplo, as políticas afirmativas estão mudando radicalmente o corpo discente, mas ainda não mudaram o corpo docente. Então, pra mim, é muito importante a gente fazer uma luta, porque essa mudança vai dar na educação fundamental, onde a gente pode ter uma formação com o pé no chão, uma formação com o coração, um sentido de arte expandido com a reconfiguração das ciências e espiritualidades. A universidade está devagar nisso, nós precisamos lutar, exatamente, Lucimara, a gente precisa lutar para transformar e abrir espaço.
Sandra falou aqui sobre escutar, sobre escutar com o corpo e com responsabilidade. No último livro da Isabelle Stengers, ela também faz uma pergunta trazendo a Gaia e um manifesto de desaceleração: “Uma outra ciência é possível?”. Aí eu fico provocando: uma outra arte é possível? Uma outra universidade é possível? Como é que a gente faz para romper as paredes? É um desafio para quem está na universidade porque existe toda a estrutura de concursos públicos e vagas delimitadas pelas políticas governamentais. Tem um movimento muito forte que está ocorrendo com o antropólogo/médico João Paulo Tukano e outros povos indígenas lutando pelo reconhecimento da medicina indígena. Enquanto isso, a gente tem uma produção de arte indígena já entrando nas galerias e museus de arte contemporânea, mas o desafio é também transformar nossos modos de escutar, aprender e engajar com a arte. Eu somo minhas palavras às da Sandra, que precisamos das [revoluções] no sentido de cuidado, de roda, de escuta, de transformar a ciência em chão, território e coração, e as artes em chão, encontro, território e coração. Dentro desses estudos da Helena Roerich desses três círculos, ela fala, a partir de seu mestre, da condução de síntese da Ética Viva e do materialismo espiritual. Uma outra formulação quântica, a matéria, é partícula vibrátil, mas também parte do realismo cósmico. Esse não pode ser visto como separado do cósmico. Por que nós nos achamos separados do cósmico? Então essas separações são ilusões, são bolhas que a gente precisa romper. São paredes.
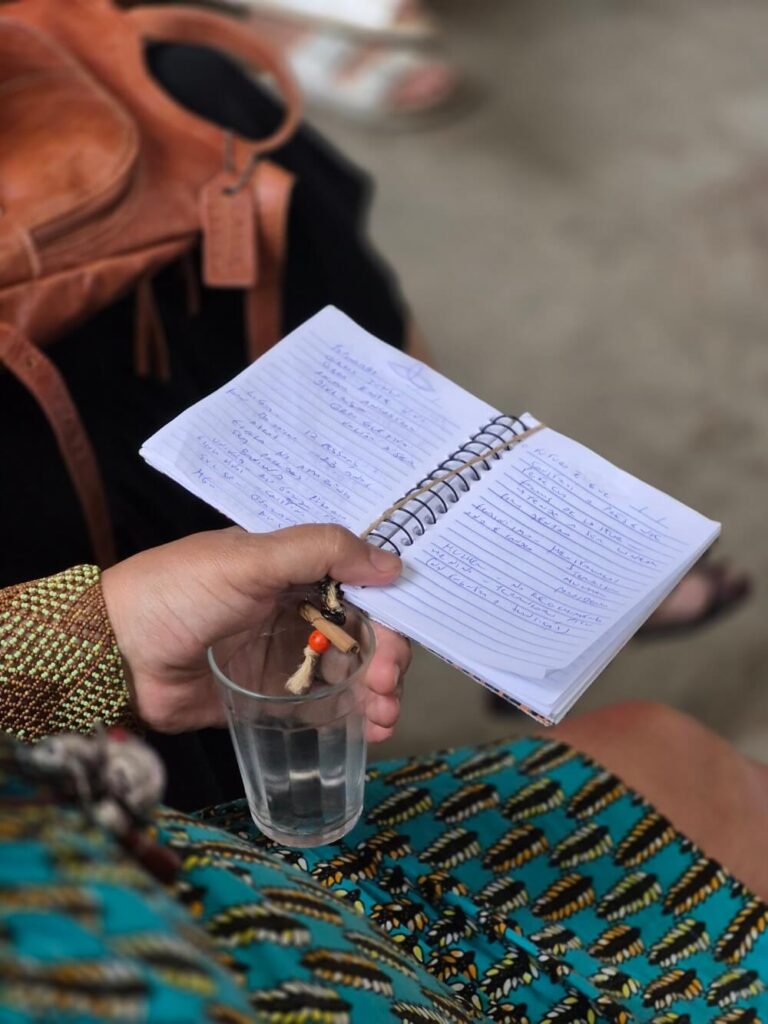
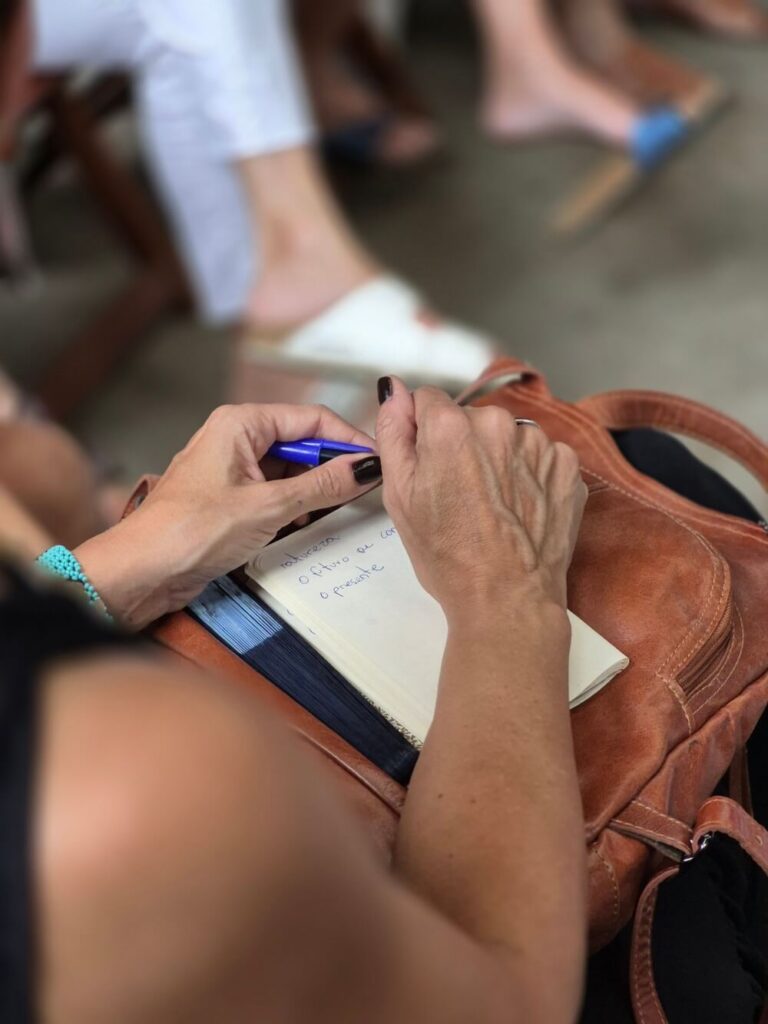
Aline Monteiro (Public)
Meu nome é Aline Monteiro, eu sou professora da faculdade de educação da UFRJ. É a primeira vez que eu venho, fiquei muito feliz com as trocas, com a escuta, procurarei vários de vocês, me esperam daqui a um outro momento, mas eu preciso sair e só não queria sair sem me desculpar e explicar. Boa conversa para vocês.
Guilherme
Você está levando um pedaço do infinito.
Aline
Uma fração do infinito. Cuidarei bem dele.
Candice de Moraes (Public)
Boa tarde, meu nome é Candice Abreu de Moraes. Muito obrigada pelas palavras lançadas aqui, desejo para todos nós que temos percepção de campo sensível, força e serenidade para a gente manter a nossa saúde mental, espiritual e física.
Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho escutado as pessoas falarem que a gente precisa se reconectar com a natureza, e aí eu queria saber, da gente que está aqui, se é possível se reconectar com a natureza. Porque se você pensar que é possível você se reconectar com a natureza, você está pensando que você não é parte da natureza que existe, [mas] alguma coisa que está fora, está em algum outro lugar, que não é o nosso corpo. Aí a gente tem que ir lá [aonde for] e se conectar. Então, eu queria trazer essa questão porque eu penso que nós somos natureza e que tudo aqui é natureza: as obras arquitetônicas, as obras do campo simbólico também são parte dessa natureza. Aí, dentro disso, eu venho pensando nessa conexão que a gente pode ter com esses acessórios, esses acoplamentos, que Joelson levantou, como se a gente necessitasse desses outros itens que a gente vem acoplando ao nosso corpo e à nossa existência para existir. Na verdade, a nossa existência está para antes de qualquer acoplamento, de qualquer coisa que a gente possa adquirir, ela não é comprável. E as coisas que são da existência, elas não estão nesse campo de que você pode adquirir, comprar e acumular. É num outro lugar que acontece, não nesse lugar que está sendo simulado por um sistema já há bastante tempo, como se a gente tivesse que ter, que acumular, para poder existir. Na verdade, na minha maneira de ver, a nossa existência é anterior, desse outro tempo não explicado pela razão, mas desse campo simbólico, desse campo da vivência, da simplicidade que a própria natureza tem. Então, quando a gente fala da arte, que outra arte é possível, eu me lembro do Nego Bispo dizendo que na natureza os pássaros cantam, e aí eu me lembro da Angel Vianna dizendo que todos os corpos bailam como nuvens que se movimentam, e eu me lembro da gente como natureza e penso que, a nossa arte, ela já é dada também, a gente já produz ela naturalmente, o nosso próprio estar é isso. Obrigada pela roda e a oportunidade de falar.

Guilherme
Se estamos tanto falando de reconectar também é porque estamos num estágio de desconexão, de fragmentação e de separação. Reconhecer isso é importante. Li um trecho [de um texto] hoje de manhã que falava assim: várias raças passaram por esse planeta, muitas só deixaram desperdício. Foi interessante ler isso. E agora estamos sendo provocados pela reconexão com um futuro ancestral, um futuro que não deixa desperdício. Como não se tornar parte das raças que deixaram desperdício? Quando vemos os oceanos de plástico, estamos em uma sociedade de consumo e desperdício. Então essa virada de chave é uma pergunta também: que futuro a gente quer ser?
Carla Albuquerque
Sou Carla Albuquerque. Sou da Unirio, também sou do EICOS da UFRJ. Muitas vezes eu quis compartilhar várias sensações, pensamentos, sentimentos, mas, agora, vem uma coisa mais forte que é pensar que não existem pessoas eleitas, iluminadas, que vão se salvar. Eu acho que a questão é coletiva mesmo e, talvez, a gente tenha um privilégio, uma oportunidade maior [de poder estar] aqui agora nesse momento. Então, eu penso assim que o nosso desafio é coletivo, o nosso desafio não é só de um grupo de seres intelectuais, de pessoas sensíveis, eu acho que o desafio é com todo mundo, é um pouco o que eu queria compartilhar.
Cristina Basilio Thomas (Public)
Eu queria citar um poema de Roseana Murray, vou tentar lembrar:
Olha o mar.
O horizonte levemente pousado na água. Onde céu e mar se encontram: território de sonhos.
Onde eu termina e o outro começa: território de sonhos.
A diferença é o que pode nos emocionar, mudar nossos gestos, nosso olhar sobre as coisas.
Em muitas civilizações o diferente era aniquilado.
Povos inteiros eram e ainda são aniquilados. A história nos fala o tempo todo dessa destruição.
Ouvir a diferença é alargar o território do sonho.
Abrir a porta que dá para o outro e aceitá-lo no que ele tem de diverso é a única ponte possível para a convivência humana.
Que o outro seja o espelho que me enriquece.
[pessoas batendo palmas]
Porque eu fui ouvindo todo mundo e esse poema me veio assim, só que eu sou muito tímida, mas eu não aguentei.
Iazana
Aproveitar essa beleza para trazer uma outra escola sem paredes, que é a escola Angel Vianna, em homenagem à partida da Angel, que se foi. Sexta-feira a gente esteve na missa de sétimo dia. Tive a oportunidade de me formar no curso técnico lá, que foi uma grande revolução, e eu queria compartilhar uma imagem que uma colega falou uma vez que a gente estava lá que era assim: ela tinha a sensação [de] que, antes de ela entrar na Angel, que o corpo dela era cheio de esparadrapos, como se estivesse cheio de esparadrapos, e o trabalho na Angel, que a gente estava vivendo, era ir tirando os esparadrapos. Aí eu queria trazer essa imagem para homenagear a Angel. Queria agradecer à Angel publicamente e dizer que essas pontes, onde a gente pode abrigar os sonhos nessas escolas que cruzam o nosso caminho, elas vão possibilitar que esses caminhos aconteçam. Aí eu fiquei pensando que essa coisa que eu mesma trouxe de pergunta de como a tecnologia está afastando o tempo da experiência é só mais uma camada do esparadrapo e que é esse o trabalho que a gente tá fazendo já, de várias maneiras pela arte, pelo resgate originário, pelo próprio pensamento disruptivo que vai, sempre deu o caminho. Também queria lembrar da imagem que a Companhia postou no Instagram sobre a Angel que é [de uma filmagem de] todo mundo na Câmara dos Vereadores. Grande homenagem à Angel, à cidadã carioca. Então, naquele lugar que é super da parede, as pessoas que estavam lá, todas juntas, levantavam os braços e dançavam, ocupando aquele lugar com um total outro sentido.4
Guilherme
Muito bonito. Acho que a gente tem que encaminhar para o encerramento circular. Alguém quer mais alguma palavra?
Shirley Britto (Público)
Obrigada. Eu sou Shirley Britto e eu faço parte de um grupo de teatro chamado Teatro de Anônimo, aqui do Rio de Janeiro, que agora vai completar 39 anos. Eu só queria agradecer a essa roda, o tanto que eu aprendi hoje, o tanto que me reconectei. Eu acho que eu também concordo com você que a gente faz parte da natureza. Mas o tanto que eu tive a certeza do que eu faço, do que eu amo — eu amo as pessoas, o ser humano, os animais, a natureza, e assim [sei] que eu estou no caminho certo, [mas] ao mesmo tempo [fico preocupada com] esse mundo doido tentando levar a gente para o egoísmo e para a individualidade. Mas tenho muita esperança, porque essa roda aqui existe e eu acho que vai existir muito mais, porque a gente vai multiplicar isso aqui. Eu só quero agradecer. Obrigada, obrigada.

Anna
Eu ia falar de fechamento também, que eu quero muito agradecer. É sempre muito especial estar aqui nessa casa, onde o mistério faz parte e a Companhia e o mistério é uma casa só. Eu achei bonito hoje sendo o dia 8 e os oito minutos de fala e também é muito especial falar sobre essas escolas sem paredes e lembrar que hoje é o dia da Rainha da Floresta Nossa Senhora da Conceição. No sincretismo, então, a floresta está em festa porque a luz dessa grande força está sendo celebrada, e aí a gente está aqui em roda, nesse lugar do Floresta Cidade, acho muito auspicioso tudo, mas é assim, deixar meu agradecimento para a Rainha da Floresta que é a grande professora.
Lígia
De verdade eu queria começar essa roda hoje cantando para Nossa Senhora da Conceição, mas como estou muito gripada achava que não conseguiria, mas vocês podem cantar comigo? Me ajudem?
[Lígia e o público cantam]
Nossa Senhora da Conceição vem saudar o povo nesse salão
Nossa Senhora da Conceição vem saudar o povo nesse salão
Saravá, saravá é de Aruanda é de Umbanda é saravá
Saravá, saravá é de Aruanda é de Umbanda é saravá
Nossa Senhora da Conceição vem saudar o povo nesse salão
Nossa Senhora da Conceição vem saudar o povo nesse salão
Saravá, saravá é de Aruanda é de Umbanda é saravá
Saravá, saravá é de Aruanda é de Umbanda é saravá
Saudar também nossos mestres, nossas mestras. Angel Vianna, por exemplo, a gente tem passado por fortes momentos da travessia dela, colocamos muita energia na sexta-feira na missa de sétimo dia. Eu preciso que a gente faça uma nova roda pra gente poder contar também da escola sem paredes [da Companhia] que a gente criou há muitos anos, quando eu tive um encontro com uma pessoa que me ensinou a trabalhar com uma escola sem paredes. Mas depois a gente vai falar sobre isso e contar a história dessa figura maravilhosa.
Mas vou encerrar agora convidando vocês para o próximo domingo, dia 15 de dezembro, onde vamos fazer uma homenagem à Angel aqui na Praça da Harmonia como parte do espetáculo O Auto do Belo Amor,e convido vocês todos para estarem aqui com a gente. Também, depois do espetáculo, vai ter um choro no coreto. O choro é da Casa do Choro da Luciana Rabello, então vai ser bem especial essa finalização. Isso faz parte do fechamento do ano da casa, não quer dizer que a gente está fechado, só quer dizer que a gente está abrindo para um novo ciclo e convido a vocês pra chegarem aqui na nossa escola sem paredes. Obrigada pela presença, obrigada por cada um, por cada fala, só agradecimento.

***
Anna Dantes
Dirige a editora Dantes e trabalha com a extensão da experiência de edição para outros formatos – laboratórios, oficinas, revistas, curadorias, exposições, coleções de moda, ciclos de estudo e filmes. Desde 1994, cria, realiza e colabora com projetos de transmissão de conhecimento e memória. Há oito anos realiza, junto ao povo Huni Kuin, no Acre, o projeto Una Shubu Hiwea, Livro Escola Viva, que contou com parceiros como Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Itaú Cultural. Tem diversos livros publicados, entre eles Una Isi Kayawa, ganhador do Prêmio Jabuti em Ciência da Natureza. Atualmente, dedica-se também ao Selvagem, ciclo de estudos sobre a vida, rodas de conversas e edição de livros que tratam das correspondências entre conhecimentos científicos, artísticos e tradicionais.
Fabio Scarano
Fabio Rubio Scarano é curador do Museu do Amanhã, titular da Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, e professor titular de Ecologia da UFRJ. Engenheiro Florestal e Ph.D. em Ecologia, Fabio atuou nos painéis da ONU para o clima (IPCC) e biodiversidade (IPBES) e foi dirigente no Jardim Botânico do Rio, na Conservação Internacional e na Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Recebeu dois Prêmios Jabuti de Literatura na área de Ciências Naturais.
Iazana Guizzo
Arquiteta e urbanista. Coordenadora do projeto de extensão, ensino e pesquisa Floresta Cidade da FAU UFRJ, onde também é professora. É doutora em urbanismo, mestre em psicologia e formada em balé contemporâneo. A regeneração das cidades diante da urgência climática, a participação comunitária, a vida interespecífica e as cosmopercepções afro-ameríndias são temas de seu interesse. Atua no campo da arquitetura, urbanismo e arte e colabora com a Companhia de Mystérios e Novidades desde 2020.
Lígia Veiga
Atriz, musicista, dançarina, integrou o grupo carioca Coringa Grupo de Dança e atuou no teatro de rua italiano Teatro Pirata, na década de oitenta. Criadora e diretora da Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades (1981), desde 2007 sediada na região portuária do Rio de Janeiro. A Companhia dialoga com o território através de seus espetáculos, festivais, oficinas, fóruns, cortejos e atividades do seu calendário anual. Criou o Projeto Gigantes pela própria Natureza –, orquestra itinerante sobre pernas de pau, constituído por oficinas práticas e teóricas que inaugurou as atividades educativas da Casa de Mystérios e da Praça da Harmonia.
Luiz Guilherme Vergara
Luiz Guilherme Vergara é professor associado do departamento de arte e membro do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi coordenador do curso de graduação em artes (2019- 2024) e diretor do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói entre 2005–2008 e 2013–2016. Coordena o grupo de pesquisa (CNPq) ynterfluxes contemporâneos: Arte Comunidade e Natureza.
Mãe Sara
Líder espiritual da União Umbandista de Luz, Caridade e Amor, no bairro da Saúde, no centro do Rio de Janeiro.
Marcia Brandão Alves
Sócia-fundadora da MBA Cultural (1999), empresa pioneira no Brasil na implantação de Museus de Ciência de quarta geração, multissensoriais, interativos, com ênfase na acessibilidade, contemplando as múltiplas inteligências (H. Gardner). Responsável pela criação, conceituação, pesquisa temática e desenvolvimento de projetos executivos. Atua na produção, execução e instalação de exposições de longa e curta duração, na gestão de projetos, bem como no desenvolvimento de tecnologias de exibição, multimídias, jogos, animações, vídeos e trilhas sonoras.
Sandra Benites
é Diretora de Artes Visuais da FUNARTE (2023). Educadora, pesquisadora e curadora. Descendente do povo Guarani Nhandewa. Mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional (UFRJ) e doutora no mesmo programa. Sua pesquisa e atuação vem focando nas particularidades das artes e vidas das comunidades indígenas apontando para mudanças contra-coloniais nas institucionalidades, museus e exposições, com os cuidados e particularidades de diferentes povos, etnias e culturas. Foi curadora da exposição “Dja guata Porã | Rio De Janeiro Indígena” no Museu de Arte do Rio de Janeiro (2017). Compôs a equipe curatorial do Museu das Culturas Indígenas, inaugurado em SP em 2022.
1 KHAYYÁM, Omar. Rubáiyát. Tradução: Octavio Tarquinio de Sousa. 10. ed. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1952.
2 ROERICH, Helena. Coração: Signos de Agni Ioga (1932). 6. ed. Tradução coordenada por Dr. J. Treiga. New York/Niterói: Agni Yoga Society/ Fundação Cultural Avatar, 2017. p. 9.
3 Ibid.
4 Ver: Instagram da Companhia de Mystérios e Novidades (@ciademysterios). Disponível em: https://www.instagram.com/p/DDFEh6ROOFG/?locale=ar-en&hl=en. Acesso: jul. 2025.


